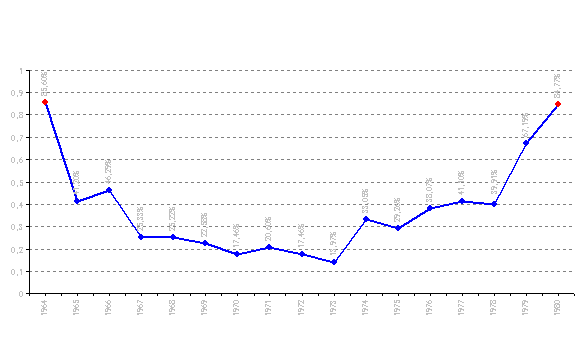| [ÍNDICE] | ||
| [CAPÍTULO ANTERIOR] | ||
|
Os planos da ditadura |
||
|
O novo governo ditatorial "divergia muito do plano precedente", o Plano Trienal do governo eleito, não no diagnóstico da economia "[...], mas sim no corpo de soluções e medidas apresentadas".[1] A principal preocupação dos planejadores continuava sendo, entretanto, a inflação de 85,6% a.a. (ver gráfico 5). Após a crise inflacionária, os ministros Campos-Bulhões lançaram plano de "racionalização" do Estado, cortando o desnecessário, "saneando" as finanças. As metas do Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG 1964-6), que eram essencialmente as mesmas do Plano Trienal, acrescido de um diagnóstico do Banco Mundial, deram origem ao Grupo Executivo de Integração de Políticas de Transporte, GEIPOT, em 1965, o qual encetaria daí em diante as principais medidas no setor.[2] "Sendo o setor de transportes, na época de implantação do Programa (PAEG 1964-6), tanto do ponto de vista das políticas de investimento quanto dos sistemas de operação, um dos maiores responsáveis (senão o maior) pelos fatores de alimentação de curto prazo do processo inflacionário, logicamente o PAEG teria que consolidar um conjunto coerente e eficaz de metas operacionais e diretrizes de política de investimento que permitissem o saneamento do setor".[3] Desejava-se a limitação de novas construções ferroviárias, "admitidas somente implantações de comprovada justificação econômica".[4] A leitura de Barat bem como do PAEG sobre as causas da inflação destacava a responsabilidade, dentre os "fatores de alimentação de curto prazo do processo inflacionário", dos investimentos em transportes. Dada a premência política de "combater a inflação", a causa atacada seria a capacidade ociosa já fixada sob a forma de capitais industriais nos transportes. O setor teria de ser "saneado", isto é, não se permitiria que toda a sua capacidade fosse usada para dar-lhe um fim de acordo com suas potencialidades, mas teria o seu desenvolvimento bloqueado para diminuir a parcela crescentemente ociosa. Já as causas da ociosidade estavam proibidas de serem enfrentadas, donde todo o esforço do planejamento concentrava-se em reduzir a capacidade ociosa do setor de transportes pela supressão da capacidade, não do ócio. Mas essa supressão, como visto acima, não seria proporcional entre os subsetores, pelo contrário: ela já tinha um subsetor pré-definido onde ser aplicada, o subsetor ferroviário, no qual o governo somente permitiria daí em diante construções "de comprovada justificação econômica". E que justificação teria investir em ferrovias com um planejamento desses? Por outro lado, o governo do período Campos-Bulhões "abriu o cofre" para os gastos em rodovia a partir de 1965, "mostrando um caráter 'anti-cíclico'", reforçando essa indústria com "instrumentos tributários que lhe asseguravam financiamento independente das restrições orçamentárias".[5] Com esses dois movimentos, o planejamento governamental ditou as regras sob as quais esses seus dois subsetores de transporte deveriam desenvolver-se, ou não se desenvolver, no caso do ferroviário.
Estava na pauta dos planejadores da ditadura entre o que foi caracterizado por Barat como "fases e características básicas do desenvolvimento econômico brasileiro" no período 1964-70, a redução das faixas de substituição de importações, dada a interpretação então corrente de que o processo de substituição chegava ao seu limite. A eliminação gradativa de subvenções para cobertura de déficits figurava entre os "objetivos e decisões gerais de política de transportes". Isso significou a "continuação do programa de extinção de ramais ferroviários antieconômicos".[6] Com a justificativa de cortar "subsídios inflacionários", o Governo diminuiu em 66% os custeios das ferrovias e portos de 1964 a 1966 pelo PAEG. O Plano Econômico de Desenvolvimento (PED) de 1968 culpou o PAEG de 1964 pela alimentação da inflação com o retardo na atividade econômica de sua política. Diagnosticou a causa inflacionária na pressão de custos, e não na demanda de produto, como fizera o PAEG, já que os setores de infra-estrutura encontravam-se sem investimentos que pudessem reduzir os custos em longo prazo, uma situação em parte, de fato, gerada pelo PAEG. Dessa mudança de abordagem da causa dos problemas formou-se uma inversão de política econômica: da teoria monetarista da inflação, passou-se à teoria estruturalista da inflação, isto é, da leitura em que se assumia que era o excesso de demanda global que criava inflação, o planejamento passou a considerar que eram os altos custos de produção que elevavam os preços, fazendo-se imprescindível o subsídio com investimentos. Já em 1968, com a virada do PED, quando "as taxas de crescimento econômico se elevaram" e o transporte foi novamente sobrecarregado, os investimentos nas ferrovias e portos não recuperaram o tempo perdido nem voltaram ao patamar anterior, pelo contrário: a carga passou à rodovia.[7]
O 2º PND e as últimas tentativas do planejamento Mas aquele golpe sobre a infra-estrutura de transportes ressoaria na estrutura econômica nacional somente em meados da década de 1970, no período da chamada "crise do petróleo", isto é, quando o preço de importação desse insumo intermediário aumentou em disparada e, além dos temores financeiros da economia internacional, reais ou fictícios, abalou materialmente a indústria rodoviária já dilatada em toda a infra-estrutura de transporte nacional, levando-a a uma crise. A chamada "crise do petróleo" de 1973, uma crise do ciclo longo de acumulação internacional, exacerbou a fragilidade da política econômica brasileira de dependência de financiamento externo, que a condicionava a ter os períodos prósperos de seus "ciclos breves" sincronizados aos períodos de ascensão do ciclo longo internacional, o que igualmente a sujeitava aos períodos de depressão internacional. Por o insumo petróleo ser fundamental no modo rodoviário, a crise de financiamento internacional da economia nacional confundia-se com uma crise de insumo energético, daí essa crise aparecer para o planejador de transportes como uma "excessiva dependência do modo rodoviário",[8] já exposta na seção anterior. Isto é, provocava empate ao desenvolvimento da infra-estrutura de transportes dado o encarecimento do serviço de transporte e de toda a produção nacional pelo custo adicionado pelo alto preço do insumo petróleo. A cadeia de auto-financiamento rodoviário romperia-se pela queda do consumo privado, incitando o governo a rever suas políticas de financiamento para que a crise não se alastrasse por toda a economia, que já a sofria pelo encarecimento da energia industrial, também baseada em petróleo, e principalmente pela fragilidade no suprimento de capital de investimento, de origem estrangeira. Embora dissimulada na infra-estrutura de transporte, a crise grassava no capital estrangeiro que financiava a indústria nacional que, portanto, foi forçada a engolir um "hiato" de divisas a partir de 1974.[9] O temor de uma "quebradeira" era real e iminente.[10] O 2º Plano Nacional de Desenvolvimento (2º PND) de 1974 apontava para um novo padrão de industrialização e conseqüentes redefinições da infra-estrutura de suporte e do processo de integração nacional que a condicionava.[11] O 2º PND manteria o crescimento das altas taxas de consumo interno de petróleo, de 6,2% ao ano, através de políticas de contenção dos preços de seus derivados, dando sobrevida ao perfil de consumo energético, necessário ao prolongamento do surto de crescimento econômico.[12] Com esse plano "se perseguia a maior eficiência [da economia], mas ela seria obtida através da correção dos flagrantes desbalanceamentos do aparelho produtivo, e do alcance de um outro 'patamar tecnológico'".[13] Ao contrário de receita ortodoxa de ajuste da economia nacional à crise financeira internacional por medidas recessivas, que desincentivassem a atividade industrial e forçassem a redução da produção,[14] que em 1973 fez crescer em 14% o PIB, o 2º PND apostou na aceleração da industrialização, na complementação do parque industrial brasileiro e na sobrevivência à crise "conjuntural" junto com a superação do subdesenvolvimento "estrutural".[15] Visando superar em longo prazo as causas da suscetibilidade da economia nacional à crise internacional, evidenciada na dependência de financiamento estrangeiro, o plano de investimentos em setores de formação de capital levaria, em primeiro momento, ao agravamento da crise energética que era base da crise financeira, pois sua rápida demanda capital-intensiva aumentaria o consumo de energia que então encarecia brutalmente. Isso era sabido pelos planejadores do 2º PND, que assumiam que assim tinha de ser, no curto prazo, para que se superasse, no longo prazo, a situação crítica em que se encontrava a economia brasileira então, forçando-se ainda mais o endividamento externo naquele momento, mas para que fosse alcançado, de uma vez por todas, um "novo patamar tecnológico" que significasse a independência nacional e a autonomização da economia interna em relação às flutuações externas. Nos termos da teoria dos ciclos, isso seria defasar os ciclos "breves" ou "médios" nacionais em relação aos ciclos "longos" da economia internacional. Ao entrar em rota de colisão com as forças políticas que pediam pelo ajuste passivo à recessão, o 2º PND tencionava ainda mais o cenário político interno e a sua própria sustentação, bem como o entendimento de seus sucessos em longo prazo. O movimento externo de captação de capitais pelo governo respaldava-se na credibilidade das empresas estatais brasileiras no mercado internacional de capitais, ainda mais em momento de rarefação do crédito privado. No arranjo desse acesso ao capital financeiro internacional para a formação interna de capital industrial após 1974, o Estado encarregou-se de contrair as dívidas externas, com a intenção de dar folga à captação privada, e distribuir o capital internamente segundo a política de investimentos do 2° PND. A primeira conseqüência desse movimento foi o descolamento entre a capacidade de contrair dívidas da "empresa" Estado-Comerciante, e a capacidade das empresas privadas brasileiras de também o fazerem, acentuando de início a deficiência de capitalização que se buscou em primeiro momento sanar. E o mecanismo para isso era a inflação: com a faculdade de depositar no Banco Central o equivalente em cruzeiros de sua dívida em moeda estrangeira,[16] a qual ficava cada dia mais cara com o aumento dos preços em cruzeiros, a empresa privada nacional "estatizava" sua dívida, ao que o Estado perdia a oportunidade de se financiar com o dinheiro privado nacional sem o recurso ao imposto inflacionário e ao endividamento externo das empresas públicas. Mas para cobrir o custo do serviço dessa dívida externa socializada no Estado, o Governo não lançou mão de um aumento de tributos para socializar os custos de seu serviço, pelo contrário: a carga tributária, em vez de aumentar, diminuiu de 26,5% do PIB em 1973, para 21,8% em 1985![17] Isto quer dizer que, tendo o dinheiro sido comprado para uso das empresas públicas e para a cobertura das empresas privadas, cuja conta era quitada pelo Estado que ao mesmo tempo perdia a oportunidade de captar finanças em um mercado interno de valores, a dívida fora nacionalizada. E como a parte privada não foi liquidada na forma de pagamentos automáticos das empresas privadas para o Estado, por tributos, essa dívida continuou com o Estado que, para continuar pagando pelos serviços que contratava, teve de comprometer-se juridicamente com esses pagamentos assim que tivesse dinheiro em caixa, ou seja, emitiu títulos da dívida pública. De melhor poupador, o Estado passou a maior consumidor de poupança interna. Como a própria solução de aumentar a poupança interna nacional já reproduzia por si mesma a "despoupança" do tesouro nacional, o Estado passou em seguida a ter menos crédito, ou seja, deixou de ser um bom pagador interno, ainda que externamente continuasse um ótimo devedor. Internamente, devendo cada vez mais, o próprio aumento da emissão de títulos de sua dívida incentivava o aumento da taxa de juros pelos quais se corrigiam esses papéis, enredando o Estado em crise, da qual um lado será a "crise financeira", e o outro será a "crise fiscal". Com o crescimento do endividamento do Estado e suas empresas decorrente dos compromissos assumidos no 2º PND, esse passava a ser o novo problema para os críticos do plano heterodoxo, levando-o a sucumbir quando o "segundo choque do petróleo" atingiu as contas nacionais, quadruplicando em três anos (1978-81) os dispêndios em dólares com juros.[18] O "pacote de dezembro" de 1979 de Delfim Netto, novo ministro do Planejamento, removeu os subsídios às exportações e desvalorizou a moeda. Segundo sua percepção, o alto preço internacional do petróleo "implicaria uma redução ou a nível de consumo, ou a nível de investimento. Como não fizemos isto [em 1974], entramos no caminho de ampliar o endividamento externo".[19] O novo planejamento do governo julgava a opção do endividamento como saturada, e passava ao seu controle pela redução "a nível do consumo, ou a nível de investimento". Os dois significavam a recessão forçada. "O 'Setembro Negro' de 1982", quando a entrada de US$1,5 bilhão por mês cessou,[20] "marcou o fim da era de financiamento e o começo da era de ajustamento".[21] Enquanto em 1974 às empresas estatais coube a tarefa de exercer a liderança no recondicionamento da economia, em 1979 a elas coube sofrer "os maiores sacrifícios". Os grandes projetos de formação de capital são denunciados como "contrapartida da dívida", para "pagar a conta do petróleo e dos juros". Surpreende-se em embrião a "crise fiscal" que as futuras décadas herdariam, que pode ser assim sumarizada: daquela distribuição dos proveitos entre empresários nacionais sem distribuição entre eles dos custos da dívida, a dívida interna brasileira aumentou nas contas do Estado, e por ele foi socializada. Isso significou, em termos simples, que o Estado Nacional brasileiro estava financeiramente "nas cordas", pressionado tanto externamente pelos credores internacionais, quanto internamente pelo setor privado nacional, que liquidava o capital estatal importado ao cobrar os juros da dívida interna do Estado. Veja-se a situação em que foi parar o Estado Nacional, uma vez elevado à condição de Estado-comerciante, árbitro entre o mercado interno e o mercado externo, mediador das relações entre as "regiões" e as "nações": agora pilhado pelos dois lados, restando-lhe suas funções fundamentais de manutenção da ordem pública e fornecedor do fundo público para uns tomado por impostos de outros. Este o fundamento da estrutura de transferência de renda pelo Estado descrita nestas duas primeiras seções. O gráfico da taxa de inflação de preços ao consumidor diagrama inversamente o apogeu e declínio do planejamento econômico dos governos militares. gráfico 6 – Inflação anual ponderada 1964-1980 [22]
BARAT, 1978, p. 131. BARAT, 1978, p. 135. O autor não detalha esse diagnóstico do Banco Mundial. BARAT, 1978, p. 131. BRAGA; AGUNE, 1979, p. 21. BRAGA; AGUNE, 1979, p. 21. BARAT, 1978, p. 138, anexo1. BARAT, 1978, p. 166. O crescimento médio do setor automotivo foi de 20% a.a., de 1967 a 1974. SANTOS; BURITY, 2002, sem paginação. Barat em texto base ao SEMINÁRIO DE TRANSPORTES, PROGRAMA DE TREINAMENTO DE BANCOS DE DESENVOLVIMENTO, SET. 1974. São Paulo: UFGV publicado em BARAT, Josef. "Pesquisa e Planejamento Econômico. Rio de Janeiro, n. 5(2), dez. 1975, p. 475-516". In: BARAT, 1978, p. 374. O termo "hiato de divisas" é de Jorge Chami Batista, que significa que a entrada líquida de capital externo foi condição necessária para a plena utilização dos recursos domésticos ao longo do tempo, uma premissa do 2º PND. BATISTA, Jorge Chami. "A estratégia de ajustamento externo do Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento". Revista de Economia Política, Rio de Janeiro, v.7, nº 2, abril a junho de 1987, p. 68. CASTRO, 1985. LESSA, Carlos. A estratégia do desenvolvimento: 1974-76, sonho e fracasso. São Paulo: Brasilia, 1978. O imposto único formaria o Fundo Rodoviário Nacional até 1988, quando a nova Constituição removeu esse dispositivo autofinanciante. CASTRO, 1985, p. 54, grifos meus. "Embora o objetivo do 2º PND de diminuir a importância relativa do setor rodoviário em benefício dos setores ferroviário e marítimo tenha sido alcançado no que se refere à realocação dos recursos de investimento, as evidências demonstram um total fracasso deste objetivo com respeito aos resultados efetivos desses investimentos". BATISTA, 1987, p. 76. Como exemplo da ortodoxia há o que Luciano Coutinho escreveu em 1981 após o ajuste de 1979 e revendo as opções de 1974: "Havia, portanto, uma contradição inequívoca entre a política de gasto e investimento público, ambiciosa e expansionista, e a política de crédito e financiamento que deveria perseguir objetivos contencionistas". COUTINHO, Luciano G. "Inflexões e crise da política econômica: 1974-1980". Revista de Economia Política, Rio de Janeiro, v. 1, nº 1, janeiro a março de 1981, p.1, grifos meus. CASTRO, 1985, p. 33. BACHA, Edmar. "Observações preliminares sobre a estratégia econômica do novo governo brasileiro". Revista de Economia Política, Rio de Janeiro, v. 6, nº 1, janeiro a abril de 1986. "[...] O orçamento do governo fica sobrecarregado por novas obrigações financeiras dispendiosas, enquanto aumenta, por outro lado, o patrimônio líquido do setor privado". BACHA, Edmar. "Aspectos macroeconômicos do Plano de Metas". Revista de Economia Política, Rio de Janeiro, v. 6, nº 4, outubro a dezembro de 1986, p.149. O investimento fixo do Brasil cairia para 14,4% do PIB no mesmo ano de 1985. BACHA, nº 1, 1986, p. 128. De US$ 2,7 bilhões em 1978 para US$ 9,2 bilhões em 1981, segundo CASTRO, 1985, p. 48. DELFIM NETTO, A. "Manter o desenvolvimento e reduzir a dependência externa". In: PALESTRA NA ESG, mai. 1980, p. 6, apud CASTRO, 1985, p. 52. CERQUEIRA, Ceres Aires. Dívida Externa Brasileira: processo negocial, 1983-1996. Brasília: Banco Central do Brasil, 1997. No mesmo ano de 1982 não se realizou na reunião do FMI em Toronto a anunciada criação de um fundo de emergência de US$25 bilhões para os países endividados. Os países teriam de renegociar suas dívidas um a um. [21] Escreveu Roberto Campos em 1983 no artigo "Soluções para a crise brasileira". Diagnósticos APEC-dívida externa, desdolarização, dívida interna, poupança interna, Rio de Janeiro, nº 9, 1983, apud BATISTA, 1987, p. 67. Fonte: RIZZIERI; HERON, 1995. Disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br>. Acesso em: jul. 2006.
|
||
| [ÍNDICE] | ||
| [PRÓXIMO CAPÍTULO] |