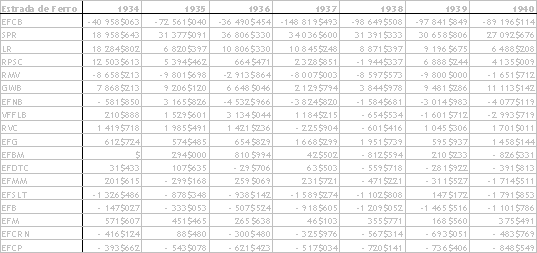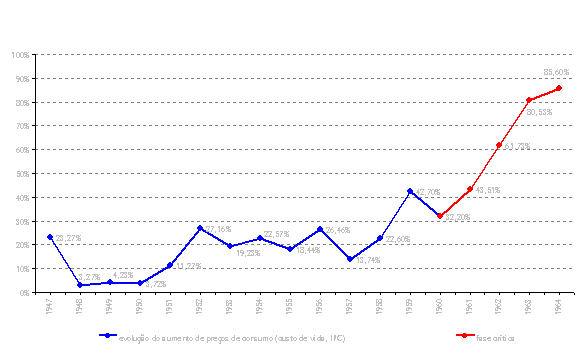| [ÍNDICE] | ||
| [CAPÍTULO ANTERIOR] | ||
|
Programa de Metas: sucesso? |
||
|
"Diga-se, portanto, que dentro do âmbito de objetivos a que se propôs, o Programa de Metas foi um exemplo de sucesso na formulação e implementação do planejamento no Brasil. Do ponto de vistas dos transportes, um rápido balanço das metas propostas indica que houve um grande sucesso nos resultados em relação às metas previstas".[1] Foram estas as metas alcançadas por subsetor: portos, 56%, traçados novos de ferrovias, 50%, manutenção e renovação de material ferroviário, 75%. Já para as rodovias, as metas alcançaram 115% para construção e 207% para pavimentação! Barat julga o sucesso do programa pelo desempenho dentro das metas estabelecidas para cada modo, "do ponto de vista dos transportes" segundo ele, querendo dizer do ponto de vista do planejamento do governo. Se o "ponto de vista dos transportes" tivesse como parâmetro o equilíbrio entre as indústrias dos modos, não a contribuição de cada "subsetor" às metas do planejamento de transportes do governo, não se poderia falar em sucesso "do ponto de vista dos transportes", e as evoluções das suas metas teriam de ser consideradas discrepantes, pois um desempenho de 207% do rodoviário causa evidente obstáculo aos 50% do ferroviário ou 56% do portuário.[2] As cifras são demonstrações do desequilíbrio estrutural em andamento. E os planejadores tinham, entre os "objetivos e decisões gerais de política de transportes" no período 1956-63,[3] a meta de criar "fundos vinculados para assegurar a expansão por modalidade", isto é, estimular e desenvolver essa desigualdade que mencionei. Essa desigualdade estava sustentada na estrutura do projeto da industrialização brasileira pelo consumo dos produtos do setor de bens de consumo duráveis, ou Setor/Departamento II, conduzido pela indústria "de ponta" automobilística,[4] considerada dentro do programa como "indústria básica, exceção entre as demais metas",[5] o que implicou na incapacidade dos setores de bens de capital e indústria de base de dirigirem o avanço da industrialização brasileira.[6] Aliás, a atrofia do setor produtor de bens de capital condicionava que, mesmo quando fosse acelerado o crescimento da atividade industrial, esta continuasse "tecnologicamente passiva". Para Celso Furtado,[7] a inovação tecnológica foi entre nós uma conseqüência secundária do desenvolvimento, não o seu motor. O crescimento industrial desviou do problema pela "linha de menor esforço" e expandiu-se "horizontalmente", crescentemente aberto para o exterior.[8] Nunca incorporado, o investimento na inovação tecnológica de longo prazo de maturação desperdiçou-se, ou melhor, foi evitado quando possível e erradicado quando "necessário". Quanto aos objetivos e medidas setoriais definidas para as diversas modalidades de transportes no período 1956-63, já não se fala mais em "substituição", mas "erradicação de trechos ferroviários antieconômicos".[9] Com aquelas "decisões gerais", e estas "medidas setoriais", alargava-se a desigualdade entre o modo rodoviário e o ferroviário, a qual garantia o desenvolvimento do primeiro não mais pela substituição do segundo, mas pela sua erradicação. Para Braga e Agune, não se tratava apenas de política governamental de substituição forçada da matriz de transportes através da erradicação de trechos ferroviários "antieconômicos", quer dizer, remoção de trilhos; "mais que isso [que a transformação da herança primário-exportadora], num sentido amplo, o sistema ferroviário esteve destinado a ceder lugar ao sistema rodoviário: a ampliação da fronteira agrícola far-se-ia pela rodovia de penetração e a esta destinar-se-iam os recursos públicos prioritariamente".[10]
Os 1,74% do PIB registrados em 1959 para obras em rodovias eram garantidos pelo Estado através do Fundo Rodoviário Nacional existente desde 1945,[11] custeado minoritariamente pelas receitas fiscais do Orçamento Geral da União e orçamentos estaduais, e principalmente pelo Imposto Único incidente sobre combustíveis, lubrificantes e derivados de petróleo em geral, isto é, sobre o produto realizado por quase todas as indústrias, e não apenas aquelas envolvidas na produção rodoviária. A parte que provinha do produto das indústrias rodoviárias era comprada majoritariamente pelos motoristas de cujas rendas privadas a indústria automobilística recolhia, sob a forma de material rodante, os outros 2,75% do PIB registrados para a rodovia em 1959. [12] Com essa estrutura reprodutora, em que o consumo da mercadoria comprada com renda privada (o automóvel) demandava o dispêndio extra da mesma renda privada em outros produtos essenciais, em cujos preços estava embutido o imposto único —com o qual o Estado financiava a construção e manutenção da infra-estrutura (estrada de rodagem) —, abriu-se o caminho para o superdesenvolvimento das indústrias associadas e conseqüentemente para a reprodução automática do modo rodoviário, independente da evolução do Orçamento da União, vale dizer, da conjuntura do resto da economia nacional. Por estarem na base energética de toda a produção industrial, os derivados de petróleo assumiram com esse imposto o papel de drenar capitais dos setores produtivos para o setor encarregado da circulação física das mercadorias. O capital das fábricas era levado para as estradas de rodagem, com o que o auto-financiamento rodoviário foi continuamente realimentado pela indústria através de subsídio implícito no imposto único.[13] Nesse mesmo fluxo correria, ainda, a taxa de inflação dos preços. Isso acontecia devido à característica singular de a industrialização da economia brasileira ter sido feita pelo processo de substituições de importações, o que implicou no desenvolvimento estanque de um setor após o outro. Fato conhecido, a cadeia produtiva resultou em composto com pouca relação orgânica intersetorial. Da falta de nexo financeiro intersetorial decorreu que o crescimento de forças produtivas ociosas dentro de qualquer um desses setores tendia a pressionar todo o sistema com a elevação dos preços das mercadorias que remunerassem os capitais já investidos, setor a setor, o que afinal impunha a todo o sistema o ócio das capacidades produtivas setoriais, acarretando uma incidência em cadeia que alimentava a taxa de inflação. Dada a inabilidade dos planejadores em prever a redistribuição dos capitais de acordo com as capacidades ociosas, o que caracterizava a grande viscosidade do fluxo financeiro observado entre os setores da economia nacional, essa taxa de inflação acelerava-se perigosamente. Esse comportamento nada teria de inercial, pelo contrário: se existia não era pela inércia do sistema, mas pela inércia dos governantes em resolver a questão. O que talvez escape à visão dos economistas é a posição privilegiada em que se encontrava o setor de transportes na infra-estrutura econômica em desenvolvimento. Pois como era encarregado de realizar materialmente o fluxo intersetorial, o setor de transportes pôde, com sucesso, ter acesso e drenar para si recursos de setor em setor, estivessem ociosos ou não. Não foi capaz, todavia, de contribuir para todo o sistema com a redistribuição desses recursos em seguida, e isso por causa do fundamento do seu modo de transporte hegemônico, o rodoviário, no qual a renda privada per capita é acumulada pelas montadoras, como visto anteriormente, e expatriada na forma de "remessa de lucros". Essa característica da gênese da inflação brasileira na capacidade setorial ociosa só seria posta a desnudo mais tarde com o debate das soluções à hiperinflação dos anos 1980, quando as diferenças de interpretação formariam leituras díspares da crise. Em função do material rodante, portanto, as indústrias do modo rodoviário —refinarias e montadoras— evoluíram "montadas" na evolução da renda privada per capita, à parte do desenvolvimento dos outros modos de transporte e, naturalmente, onerando no longo prazo toda a economia pelo empate do capital privado assim estocado, ainda que no médio prazo tenha sido a solução infra-estrutural para o desenvolvimento dessa mesma economia em crise. Não é sem algum significado mistificador que seja o "automóvel" a mercadoria-símbolo desse modo de transporte hegemônico. Mas foi concedendo uma regra para a indústria rodoviária e negando-a para a indústria ferroviária que o governo dirigiu a economia para o auto-financiamento da primeira, de maneira "independente das restrições orçamentárias", e para o aprisionamento da segunda na estrutura governada pelo Estado, da qual até o próprio Governo fugia com sua Administração Paralela.[14] A indústria ferroviária viu-se amarrada nas "restrições orçamentárias", "[...] restando como 'explicação' da estagnação deste [subsetor ferroviário] a ineficiência administrativa já pré-determinada pela política governamental que ao atribuir 'serviços públicos' a suas empresas as impede de atuar capitalisticamente. Se o fizessem, os referidos serviços públicos estariam a descoberto".[15] O corolário da reciclagem do déficit governamental foi a encampação das ferrovias privadas e estaduais na Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, RFFSA, em 1957, exatamente o mesmo ano em que o Governo incluía a diferença cambial na tarifa dos serviços públicos de eletricidade, estabelecendo o princípio da correção monetária para as empresas estrangeiras.[16] Com isso, o Governo JK alimentou, por final, a ideologia da "ineficiência das empresas públicas" brasileiras, cuja penúria adviria do fato de não adotarem a "lógica do mercado capitalista", falácia criada pelo próprio Governo do Estado! Dessa maneira, estrangulou-se o desenvolvimento da indústria ferroviária ao excluí-la tanto das facilidades auto-financiadoras quanto da política governamental de "chamar para si" a responsabilidade dos pesados investimentos concentrados no tempo, a formação bruta de capital fixo da indústria de bens de capital no Brasil. Em 1959, com a inflação dos preços acumulada em 42,7%, os investimentos em rodovia eram 1,74 e os em veículos eram 2,75 dos 4,5% do PIB para o transporte rodoviário. A alta da taxa de inflação dos preços aceleraria ainda mais na década que começava, distorcendo o cálculo dos recursos públicos dos quais dependia o subsetor ferroviário, abalando o governo eleito e posteriormente sendo atacada pelo ditatorial após 1964 com medidas que acentuariam ainda mais as distorções intermodais no financiamento da infra-estrutura de transportes. Os economistas "liberais" guindados ao Governo do Estado pelo golpe militar de 1964 justificaram suas medidas como "combate à inflação", mas no longo prazo seus planos parecem tê-la acentuado através das distorções na infra-estrutura produtiva que causaram, inclusive e em destaque na matriz de transportes, no que me detenho em seguida. Tabela 3 – Saldo das empresas ferroviárias que formariam a RFFSA 1934 a 1940 (mil-réis)[17]
gráfico 5 – Inflação anual ponderada 1947-1964 [18]
BARAT, 1978, p. 128. "(...) O Programa de Metas não era um plano compreensivo, mas sim um plano setorial. Conseqüentemente, não propunha a alocação de todos os recursos através do processo de planejamento. (...) Metodologicamente, a técnica de elaboração do plano foi a seguinte: primeiro fez-se um estudo das tendências recentes na oferta e na demanda desses setores-chave. Em seguida, através de um prognóstico baseado na extrapolação da composição provável da demanda nos anos subseqüentes (...), foram fixadas metas quantitativas em cada setor, para um período de cinco anos. Finalmente, estabelecidas as metas (...), eram submetidas a uma revisão contínua através do método de aproximações sucessivas. Essa técnica de planificação era, portanto, adequada para programar o setor com o grau de sofisticação permitido pelos dados estatísticos então disponíveis, mas era incapaz, por si só, tanto de identificar o setor que deveria ser planejado, quanto de verificar em que medida as metas estabelecidas num setor seriam compatíveis ou consistentes com outras metas, no mesmo setor ou em outros". DICIONÁRIO HISTÓRICO-BIOGRÁFICO BRASILEIRO. Rio de Janeiro: CPDOC-FGV, 2001, apud LAGONEGRO, 2003, p. 294. Por essas suas características, o Programa de Metas somente pode ser considerado como um "plano" enquanto Plano de Governo de Kubitschek. Segundo BARAT, 1978, p. 138, anexo 1. Aliás, a indústria que veio produzir automóveis, fornecia também geladeiras e materiais elétricos do chamado Setor II, dos bens de consumo duráveis. SANTOS, Ângela Maria Medeiros Martins; BURITY, Priscilla. BNDES 50 Anos - Histórias Setoriais: O Complexo Automotivo. Rio de Janeiro: BNDES Setorial, 2002, sem paginação. A própria fundação das indústrias de base no Brasil, marcada na criação da Companhia Siderúrgica Nacional por Vargas em 1942, antevia a realização de seu produto no consumo rodoviário, nas palavras de Edmundo Macedo Soares, seu primeiro diretor técnico e idealizador: "(...) quando se tratou da concepção de Volta Redonda, já tivemos em vista a possibilidade de construção de automóvel no Brasil. [...] Na própria concepção de Volta Redonda já se tinham em vista as necessidades da indústria automobilística, sendo dotado o sistema de laminação contínua". LAGONEGRO, 2003, p. 239. FURTADO, 1968, p. 78. CASTRO, Antonio Barros de. A economia brasileira em marcha forçada. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985, p. 76. Segundo BARAT, 1978, p. 138, anexo 1. BRAGA; AGUNE, 1979, p. 15, grifos meus. Criado pelo decreto-lei nº 2615 de 1940, o Fundo Rodoviário dos Estados e Municípios foi transformado no Fundo Rodoviário Nacional em 1945. Ambos foram precedidos em forma de lei pelo Fundo Especial para Construção de Estradas de Rodagem Federais, estabelecido pelo Decreto nº 5141 de 5 de janeiro de 1927, por Washington Luiz na Presidência da República. "Formado pela cobrança de um adicional aos impostos de importação sobre o consumo a que estão sujeitos os materiais rodantes, combustíveis e acessórios, arrecadável em moeda corrente, na forma de $60 por kg de gasolina, 20% sobre os impostos ad valorem ou por unidade que incidam sobre automóveis, ônibus, caminhões, chassis, pneus, câmaras, auto-peças, acessórios, motocicletas, side-cars e bicicletas, ou $50 por kg de acessórios não contemplados no item anterior, depositados no Tesouro Nacional, à disposição do Ministério da Viação e Obras Públicas para serem aplicadas exclusivamente na construção e conservação das estradas de rodagem federais em todo o território nacional". LAGONEGRO, 2003, p. 223 e 245. O imposto único fora regulamentado em 1940. LAGONEGRO, 2003, p. 252. BRAGA; AGUNE, 1979, p. 15. Esse foi o argumento de Barat no SEMINÁRIO PARA ANÁLISE DO PROCESSO DE FORMULAÇÃO DE POLÍTICA GOVERNAMENTAL, SETOR DE TRANSPORTE, OUT. 1968. São Paulo: FGV, revisto pelo IPEA e publicado em BARAT, Josef. "Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, n. 7 (4), out./dez. 1973, p. 105-199". In: BARAT, 1978, p. 62: "Assim, no ano de 1969, enquanto a rede rodoviária recebeu para sua expansão e conservação 79,5% do total arrecadado [do imposto único], através do Fundo Rodoviário Nacional, os usuários das rodovias contribuíram com somente 72% daquela arrecadação total [diferença de 7,5%]. Houve, portanto, uma transferência de recursos dos consumidores industriais (óleos combustíveis e lubrificantes) e domésticos (gás liquefeito e querosene) para a realização dos programas rodoviários". A Administração Paralela foi o "jeitinho" encontrado pelo Presidente da República Juscelino Kubitschek para implementar o seu programa de governo, aí incluídos o Programa de Metas, e nele, a cidade de Brasília. BRAGA; AGUNE, 1979, p. 22. Essa inclusão da diferença cambial nas tarifas das empresas estrangeiras seria o princípio do estatuto da correção monetária instituída durante a ditadura. Ela seria removida apenas no Plano Real na década de 1990. MARTINS, 1995. Fonte: RIZZIERI, Juarez Alexandre B. e CARMO, Heron C. E. do. Retrospectiva histórica e metodológica do IPC-FIPE. São Paulo: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, 1995. Disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br>. Acesso em: jul. 2006.
|
||
| [ÍNDICE] | ||
| [PRÓXIMO CAPÍTULO] |