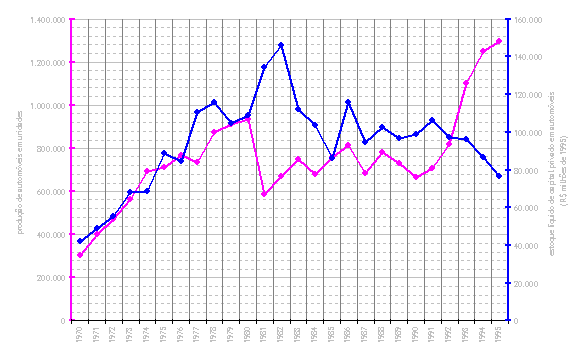| [ÍNDICE] | ||
| [CAPÍTULO ANTERIOR] | ||
|
Substituição do modo de transporte hegemônico |
||
|
Tão caracteristicamente díspar em um modo e outro, a forma da produção do serviço de transporte foi o ponto de inflexão da substituição de todo o modo de transporte hegemônico na infra-estrutura econômica nacional, de ferroviário para rodoviário. A forma da produção do serviço de transporte por rodovias condicionou a forma da urbanização do território nacional feita no desenvolvimento industrial após a Segunda Grande Guerra, quando substituiu a possibilidade da "indústria" de serviço de transporte em uma ferrovia —imensa produção interurbana espalhada por quilômetros através de zonas rurais—, pelo "vazio" da via pavimentada, de baixo padrão e adaptada à "realidade local" das zonas rurais que cruzava. Ainda mais fundamental que isso foi esse serviço de transporte ter ficado diretamente vinculado à evolução da renda privada per capita. Em outras palavras, essa forma de produção do serviço de transporte por rodovias, ao partir das cidades para o campo, como descrito em capítulo anterior, incorporava aquelas relações de produção já encontradas no interior do país antes de 1945 através da sua infra-estrutura de caminhos e estradas. A expansão rodoviária confiava nessas relações arcaicas, marcadas em seus caminhos e estradas tradicionais, para apoiar o desenvolvimento do mercado interno, fazendo uso, para tal, ainda das mesmas relações já estabelecidas. Essa forma de produção do serviço de transporte seria, assim, sempre vinculada à evolução da renda privada per capita, mantida no campo pelas relações antigas, e nas cidades pelas novas: salários e capital nacional acumulado. Esse vínculo pode ser ora entendido como dependência da indústria rodoviária sob a renda privada per capita, ora como o inverso: limitação da renda privada per capita pelo estoque de capital nas mercadorias da indústria rodoviária. Diz Barat: "Nas economias em desenvolvimento, o recurso escasso é geralmente o capital" [...] "Com exceção dos investimentos nas frotas de veículos, os recursos para o financiamento de investimentos de infra-estrutura não são obtidos no mercado de capitais".[1] Logo, provêm do fundo público, que destaca fundos específicos para esse financiamento. O mercado de capitais passa pela frota de veículos, carregando consigo o poder de compra do salário do trabalhador. "Os investimentos na infra-estrutura rodoviária adquiriram assim (pelo privilégio de atender ao mercado interno, alcançar a fronteira agrícola, etc.) crescente importância relativa na formação de capital do setor de transportes como um todo [...]".[2] Com esse acesso, a indústria rodoviária conseguiu que o investimento que era distribuído ao longo do eixo concentrado de uma ferrovia fosse concentrado em montadoras distribuidoras dos veículos automóveis. Em outras palavras, a renda distribuída entre a população, renda per capita, é concentrada na montadora de automóveis pela extrema dependência desse modo de transporte do seu material rodante. A infra-estrutura (estrada de rodagem), por mais cara que tenha custado aos cofres do Estado —e, portanto, à população sob seu domínio—, esteve em desvantagem na repartição do capital, tão baixo é seu padrão de investimento de trabalho industrial. Contudo, a extensão que as rodovias tiveram de atingir para "adequar-se ao desenvolvimento nacional" elevou sobremaneira o orçamento dos órgãos estatais responsáveis pelas estradas de rodagem: o Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes, DNIT, antigo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, DNER, detém hoje 75% do orçamento destinado ao Ministério dos Transportes.[3] Desse modo, o país encontra-se convivendo com um alto índice de estoque de capital em transporte e ainda assim com deficiências crônicas no setor. Foi por conta dessa característica que o financiamento da implantação das estradas de rodagem ficou sob responsabilidade estatal, enquanto a provisão de meios de transporte ficou a cargo das montadoras estrangeiras. Essa foi a infra-estrutura "acessível" à capacidade técnica da mão-de-obra brasileira e à distribuição de renda entre a população, e por isso "adequada ao nosso desenvolvimento nacional". Como afirmei no bloco "A opção pela rodovia" do primeiro capítulo, a forma de comunicação para a integração nacional que existia unida na ferrovia sob uma mesma propriedade foi substituída por uma que fracionou essa comunicação e desenvolveu cada parte por si, ainda que estrategicamente ligadas. Além daquela divisão, adicione-se agora ao quadro a substituição da própria forma de produção do serviço de transporte prestado por aquela "fábrica interurbana" que unia a infra-estrutura (plataforma de terrapleno, via permanente, sinalização, eletrificação, etc.), o material rodante (locomotivas e vagões) e o trabalho no serviço de transporte sob a propriedade de uma mesma empresa, por uma outra forma de produção do serviço de transporte que produz o mesmo serviço dividindo o trabalho entre empresas diferentes e entre os próprios usuários, proprietários do material rodante, sob as condições que acabo de descrever. Enfim, colocando a questão nesses termos, pode-se avançar na comparação entre essas duas fases da história nacional,a primeira dominada pela "ferrovia oligárquica", e a sua sucessora pela "rodovia para o mercado interno". Mais do que pela periodização histórica, os modos rodoviário e ferroviário podem ser comparados pela relação de suas duas partes fundamentais: material rodante e infra-estrutura, razão por que trato em seguida da importância do material rodante em cada um dos modos, rodoviário e ferroviário, e daí da sua relação com a infra-estrutura na forma de produção do serviço de transporte por cada modo. gráfico 4 – Produção de automóveis e estoque líquido de capital privado 1970-1995 [4]
A
importância da produção do material rodante para cada modo O modo de produção dos materiais rodantes da rodovia e da ferrovia é condicionado pela indústria moderna. Logo, não há, em princípio, diferenças marcantes entre o trabalho efetuado numa fábrica de vagões e aquele feito em uma montadora de automóveis. Elas só começam a aparecer "do lado de fora da fábrica", e são essas diferenças as fundamentais na ponderação da importância da produção do material rodante para cada modo de transporte. Da experiência ferroviária tivemos poucos exemplos em território brasileiro, outro sintoma da fraqueza desse modo no país,[5] ao passo que a automobilística ficou notória entre nós: feita na fábrica suburbana, concentrada num galpão vigiado pelos seus novos donos General Motors, Ford, Volkswagen e Mercedes-Benz, dali irradiaria o fordismo e também o toyotismo que regram o trabalho da indústria nacional. Considerando que a produção industrial é igual para os dois modos, deve-se atentar logo para a diferença de dimensão de produção que a automobilística atingiu para dar conta das necessidades de transporte nacionais, frente àquela que faria a ferroviária para desempenhar a mesma atividade. Assim, parece claro que a superexploração do trabalho a que foi submetida a população brasileira nas fábricas fordistas e mesmo nas toyotistas —bem como no trabalho do serviço de transporte, manifestação "extra-fábrica" de toyotismo avant-la-lettre[6]—, e a influência dessas empresas na política nacional, estão enraizadas na descomunal atividade que puderam alcançar as montadoras automobilísticas, causada pela opção pela hegemonia do modo rodoviário na infra-estrutura nacional de transportes, e pela eleição da indústria automobilística como setor mais avançado da industrialização brasileira, os lados de baixo e de cima da mesma moeda.
O trabalho no serviço de transporte O trabalho no serviço que usaria a infra-estrutura de transportes nacional foi desorganizado de uma empresa e disseminado entre os próprios interessados —com seus automóveis particulares— e entre empregados de companhias a serviço das unidades produtivas —os motoristas, entre eles principalmente os caminhoneiros. Esse foi o passo mais importante na substituição da ferrovia pela rodovia: com a extinção da empresa ferroviária prestadora do serviço de transporte —e a franquia desse serviço aos interessados que, para montar suas companhias, teriam de comprar a produção automobilística, até a década de 1950 ainda importada—, o planejamento rebaixou o padrão de investimento geral no setor, e por conseqüência aumentou a socialização dos custos sobre os bolsos privados, revertendo seus lucros primeiro para os impostos da importação automobilística e de derivados de petróleo, depois para a instalação e prosperidade dessa indústria em território nacional, uma vez assegurado seu mercado consumidor em expansão. O rebaixamento do padrão de investimento começou no âmbito do trabalho no serviço de transporte através do barateamento do custo do frete, à medida que o próprio trabalhador tornava-se o proprietário e custeador de seu instrumento de trabalho, o caminhão, e retirava esse custo da "empresa", a qual permanecia como mediadora do trabalhador e do mercado de serviço de transporte. Com esse toyotismo avant-la-lettre citado, o planejamento de transportes conseguiu a "meta" de redução do preço do frete, pois o preço do trabalho foi "nivelado por baixo" pelo excesso de oferta de força-de-trabalho —caminhoneiros com seus caminhões— em demanda de serviço, o qual varia a sua demanda sazonalmente, sem a garantia da certeza do emprego. Por esse sistema, a maioria em competição deletéria, na situação insegura em que está, garante aos compradores do trabalho no serviço de transporte o mais baixo preço.[7] O caminhoneiro não fica dono de seu trabalho, ainda que tenha o seu caminhão. Para o acesso ao mercado nacional, fica dependente da mediação das transportadoras e, quando não há trabalho para ele nesse mercado, a propriedade de seu caminhão ainda lhe serve para fazer pequenos serviços temporários, independentes e de pouco valor. Essas são as conseqüências do superdesenvolvimento da indústria automobilística-rodoviária, pelas quais se percebe a participação fundamental do período de produção fordista da indústria na criação das condições sociais para o advento do período seguinte de produção toyotista, cuja implantação corrobora a teoria de Rangel de que as antigas relações internas de produção são mantidas com a função de "amortecimento" das variações sazonais da acumulação capitalista, um último recurso sempre invocado para a adaptação interna ao comportamento cíclico das relações externas de produção que se transformam.[8] Quero enfatizar que o toyotismo no Brasil assenta-se na permanência e aprofundamento das antigas relações internas de produção, secularmente marcadas pela informalidade, o trabalho de agregado, o não-assalariamento. Desse modo, a estrutura proprietária assim arranjada possibilitou a "flexibilização" do trabalho no mercado de serviço de transporte, "adequando" o setor ao modo de vida dos trabalhadores brasileiros e ao "modelo de desenvolvimento nacional". Já o trabalho na ferrovia é antevisto por Martins, que cita Chandler[9] e lembra que a produção total de uma ferrovia não pode ser apreendida em um só olhar por um indivíduo, mesmo por seu dono. Se tentasse vigiar de perto cada instalação de sua propriedade, o dono de uma ferrovia teria de viajar ininterruptamente junto com os trens, e mesmo assim deixaria para trás muito ainda por ver, tão distante. A gestão de empresas ferroviárias foi pioneira no estabelecimento das modernas práticas de planejamento empresarial, tanto nos países mais industrializados, como em qualquer lugar onde tiveram de operar. Mas não foi essa a gestão que prevaleceu no Brasil, pois ela foi derrotada pela indústria rodoviária, faltando saber como um modelo mais avançado sucumbiu diante de um mais atrasado.
A hegemonia rodoviária na infra-estrutura de transportes Como os brasileiros importavam o serviço de transporte ferroviário junto com o material ferroviário no período do "ciclo primário-exportador", a forma de produção do serviço de transporte no país teria sido segundo a maneira descrita no bloco anterior. Isso teria sido assim pelo período que foi de 1871 a 1945,[10] a partir de quando a opção rodoviária predominaria, já sob o condicionamento externo da mudança na condução da dominação imperial que passaria da City inglesa para a América do Norte com o resultado da Segunda Grande Guerra.[11] Com a Europa após 1945 endividada perante os EU, até mesmo os capitais fixados no patrimônio ferroviário "regional" no Brasil tiveram de ser liquidados e retornar ao Velho Mundo.[12] Providencialmente, o Novo Mundo emergia com o automóvel solucionando o transporte em todo o planeta, inclusive agora no Brasil carente de um meio de transporte que se adequasse ao seu desenvolvimento nacional planejado pelo Estado. E seria assim que o Estado associado à rodovia cumpriria a tarefa de assumir o passivo ferroviário, mantê-lo subsistindo sob seu controle, assim como assumiria para si o desenvolvimento dos setores industriais "de base", indústria pesada (mineração, siderurgia), ao passo que criava a demanda por meios de transporte e abria as fronteiras para a indústria automobilística no país, "carro-chefe" de nosso nascente setor industrial "de ponta". Braga e Agune[13] conceituam "rodoviarismo" como fenômeno do desenvolvimento das economias capitalistas, ocorrendo nas décadas de 1940, 50 e 60. Em cada uma dessas economias, esse fenômeno a impactaria de maneira própria, percebendo-se isso pela sua relação com os outros modos de transporte. Logo, como o "rodoviarismo" seria um fenômeno, ele o seria tanto no suprimento de um sistema de transporte —composto de infra-estrutura, material rodante e trabalho no serviço de transporte—, quanto na indústria produtora dos materiais de uso do sistema: a do material rodante (automóveis, caminhões, ônibus) em aço, lata e borracha; a do combustível dos motores (petróleo e posteriormente o diesel e etanol vegetal) e o substrato da via permanente, igualmente derivado do petróleo, de produção impulsionada pelo trabalho no serviço de transporte. No caso brasileiro, o fenômeno teria ocorrido nas décadas de 1950 e 60, e saturado na de 1970, segundo a observação dos autores. Dado o conceito principal, o "fenômeno rodoviarismo" aconteceria como manifestações particulares, específicas, em cada economia nacional, sendo o caso brasileiro o do desequilíbrio modal em comparação a outras economias mais avançadas na industrialização. Nessas outras economias, segundo as potencialidades dos territórios dos Estados, o "rodoviarismo" teria ocorrido após os outros modos ferroviário ou hidroviário já estarem avançados em seu próprio desenvolvimento, inserindo-se, assim, em fatia de mercado própria e equilibrando-se entre a divisão modal anterior e a nova. Assim, enquanto nos "países de capitalismo avançado" o "rodoviarismo" não teria significado a deterioração dos outros modos, no caso brasileiro o fenômeno teria sido "anômalo" aos padrões internacionais. Segundo Braga e Agune, "este 'desvio' deve ser buscado na natureza da política de transportes conduzida pelo Estado brasileiro em meio a um processo de industrialização realizado a partir do 'subdesenvolvimento' e com fortes determinações advindas de sua posição subordinada na estrutura mundial de crescimento capitalista.[...] No setor transportes, como em outros, as políticas estatais forjadas sob aquelas condições tendem a promover um desenvolvimento econômico-social que traz em si mesmo não a superação continuada do atraso senão que a convivência contraditória deste com características de avanço".[14] Sob essa determinação, o Estado assumiu a tarefa histórica de "forjar condições para que progrida a industrialização", e de realizar os pesados investimentos concentrados no tempo (e, politicamente, no espaço) que a economia de mercado subdesenvolvida não tinha capacidade. Assim enredado, o sistema de transportes passa a ser embutido como atribuição estatal nos planos governamentais; seguindo submisso aos pactos estruturais do próprio processo de crescimento econômico por substituição industrial de importações, no qual a indústria automobilística veio a alcançar, historicamente, o papel protagonista. No período ditatorial estabelecido durante esse processo, o importante era o país crescer, e crescer rápido. O planejamento econômico da ditadura preocupava-se, acima de tudo, com as suas metas objetivas,[15] e seus planejadores em cumprir as tarefas.[16] Para Barat, "os fatores objetivos do desenvolvimento econômico" seriam a consolidação do mercado interno e o tráfego longitudinal, isto é, tráfego entre as principais cidades da faixa litorânea, ligação tipicamente interurbana, que materializaria o mercado interno em contraste com aquelas ligações interior-litoral típicas da exportação, tratadas nos primeiros capítulos. Como afirmado pelo planejador e citado em capítulo anterior, somente a rodovia seria capaz de cumprir essa função do desenvolvimento. No entanto, "desenvolveríamos" ao mesmo tempo grande dependência desse modo de transporte, o que seria reconhecido pelo planejador após 1973. Já com o intuito de resolver o problema, e com a mesma veemência com que outros planejadores o criaram, o planejador Barat intenta reverter o problema e lista os "fatores objetivos de nossa excessiva dependência do transporte rodoviário": 1. Necessidade de consolidação do mercado interno. 2. Vantagens do rodoviário para atendimento dos acréscimos da oferta interna. 3. Posição ímpar da indústria rodoviária no modelo de desenvolvimento econômico. 4. Autofinanciamento do rodoviário. 5. Desinteresse das administrações ferroviárias. Sobre a necessidade de consolidar o mercado interno, o primeiro "fator objetivo" de todos, já expliquei como isso era visto politicamente como tarefa restrita ao modo rodoviário. Já a sua supremacia técnica estava nas suas "vantagens para atendimento dos acréscimos da oferta interna". É este "fator objetivo" que explica a adequação do modo rodoviário ao desenvolvimento nacional, pois o baixo padrão de investimento na sua infra-estrutura viária (a estrada de rodagem) poderia crescer ao passo que a renda privada per capita interna crescesse, "atendendo os acréscimos da oferta interna", e partindo mesmo dos velhos caminhos de tropas de bestas e carros-de-boi. Isso significava que a renda privada, uma vez imobilizada na forma do material rodante —o caminhão ou o automóvel—, mercadoria da indústria automobilística, demandaria o investimento em infra-estrutura viária para o seu uso, e instaurar o ciclo de consumo da mercadoria e novo investimento para produção de mais mercadoria. Essa é uma metade do "círculo virtuoso" em que se meteu a rodovia no Brasil, a parte que coube às "livres forças de mercado" da indústria automobilística e do mercado interno. A outra metade do "círculo virtuoso" da rodovia no Brasil foi preenchida pela intervenção estatal, na forma do financiamento das obras de infra-estrutura viária através do capital recolhido, majoritariamente, pelo imposto único sobre combustíveis, razão dos terceiro, quarto e quinto fatores. Barat nota os efeitos dessa intervenção ao tratar do terceiro fator, a "posição da indústria rodoviária no modelo de desenvolvimento econômico": "Assim, para cargas, o transporte rodoviário apresenta a peculiaridade de ter sua tarifa formada em condições de concorrência, enquanto que os serviços ferroviários, portuários (assim como muitos tipos de carga marítima) têm as suas tarifas formadas em condições monopolistas ou oligopolistas".[17] Não bastassem os "fatores objetivos", o planejador reconhece ainda outros "subjetivos", esses impulsionados principalmente pela metade estatal do "círculo virtuoso" da rodovia no Brasil. Esses foram tanto a facilitação política na implantação da indústria automobilística norte-americana e a propaganda ideológica de convencimento da população brasileira de sua nova "paixão nacional", o automóvel, que já tratei anteriormente, como a crença no lema "governar é abrir estradas" introduzido por Washington Luiz, que dá "importância exagerada à indústria automobilística no dinamismo econômico", endossada por Juscelino Kubitschek, supondo que haver rodovia seria "condição necessária e suficiente para o desenvolvimento regional", uma "sobrestimação do modo rodoviário como modernizador" sonhada por Vargas. Como assumiu Barat, o planejamento "[...] chegou a ponto de tornar uma decisão de política econômica global um dos mais importantes fatores de desarticulação dos sistemas não-rodoviários [fins dos anos 1950]". Ou olhando por outro ponto de vista, uma decisão "técnica" no setor de infra-estrutura, de opção por modo de transporte hegemônico, conferiu base material à "política econômica global". E o fez com tal poder que Barat, em plena "crise do petróleo", lamenta que "a preponderância do investimento rodoviário continuará a ser uma realidade concreta entre nós, pelo menos no próximo decênio [1974-84], uma vez que as características do processo de ocupação econômica dificilmente se modificarão nesse prazo".[18] E mais: "Neste ponto, cabem algumas observações sobre a inter-relação do nosso sistema de transportes com a indústria automobilística, quando se examina o problema do ponto de vista das trocas inter-regionais de mercadorias e a situação do setor industrial. Ou seja, não se trata apenas de formular uma política de transportes que consubstancie um modelo alternativo de desenvolvimento do setor em termos de uma divisão de trabalho mais adequada entre as distintas modalidades, mas sim de reformular a própria estratégia do desenvolvimento nacional, no sentido de reduzir, no longo prazo, a dependência do dinamismo da economia do ramo da produção de veículos rodoviários".[19] Isto é, remontando-se ao princípio definidor da política nacional de transportes promovida pelo Governo que privilegiou a rodovia, o planejador reconhece que o modelo de desenvolvimento econômico conduzido pelo Estado associado à rodovia condicionou a forma da ocupação da população economicamente ativa no território brasileiro durante o processo de consolidação do mercado interno, e que alterar um será alterar o outro. Devido a rodovia ter derrotado a ferrovia com a ajuda do Estado, falta ainda conhecer por que meios isso foi feito, analisando as partes que dizem respeito à questão em cada plano de desenvolvimento encetado pelo Estado, a começar pelo Programa de Metas de 1956-60, no qual o "capitalismo industrial" marcou sua liderança na política de planejamento de investimentos.[20] Esses concentraram-se em material de transporte, material elétrico e metal-mecânica, pilares da indústria de bens de capital.[21] Essa indústria passou a determinar os caminhos do planejamento governamental, condicionando-o através de saltos tecnológicos da capacidade produtiva. Esses dois capítulos de digressão analítica pelo subdesenvolvimentismo, regionalismo e os aspectos fundamentais dos modos de transporte em questão, contribuíram para marcar a idéia de planejamento em curso, para que agora possa falar do significado do "sucesso" para o planejador do desenvolvimento nacional liderado pelo Estado associado à indústria automobilística. BARAT,
1978, p. 108. BARAT,
1978, p. 157. SECRETÁRIO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS DE TRANSPORTE: entrevista concedida a mim e gravada em áudio, jun. 2006. Fontes para compor o estoque líquido de capital privado em automóveis: Para vendas: ANFAVEA. Anuário estatístico 1995. Para preços: ED. ABRIL. Revista Quatro Rodas, dez. 1994. Para estoques: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. 1988. Para importação: CACEX. Anuários. Vários anos. Obs.: São considerados apenas automóveis de passeio e uso misto, de produção nacional e importados, com até 25 anos de fabricação. Automóveis importados considerados até 1980: Códigos MBM 87.02.01 a 86.02.07. Para 1981-1995: Códigos MBM 8703.21.9900, 8703.22.0199, 0299, 0400, 8703.23.0199, 0201, 0399, 0499, 0700, 0900 e 9900. Valor do estoque calculado pelo método do estoque perpétuo. Valores corrigidos pelo Índice de Preços por Atacado - Disponibilidade Interna (IPA-DI) para máquinas, equipamentos e veículos. Fontes para compor a produção de automóveis Anfavea: ANFAVEA. "Capítulo 2: Autoveículos - produção, vendas internas e exportações - Quadro: Produção - 1957-".... In: ANFAVEA. Anuário estatístico. 1995. Obs.: Refere-se apenas a carros de passeio / passageiros e de uso misto, não englobando veículos comerciais leves (caminhonetes de uso misto, utilitários e caminhonetes de carga) nem veículos comerciais pesados (caminhões e ônibus). Assim, os automóveis listados aproximam-se da quantidade usada para o transporte individual, o que possibilita melhor aderência estatística na comparação entre a produção da indústria automobilística e sua determinação na renda privada. O lema de união dos associados da ABIFER continua sendo a insatisfação dos empresários com o "nanismo" das indústrias desse modo, restando como modelo solitário a MAFERSA. Segundo o modelo fordista, a seqüência direcionadora da empresa era produzir, armazenar e vender. Para tanto, o fordismo possuía exército de empregados e produção em massa, e criava demanda para escoar seus estoques. Com o toyotismo após 1974, inverte-se a direção. O fluxo de distribuição do produto é comandado pela demanda, que encomenda a mercadoria ao empresário que sub-contrata os trabalhadores. Essa inversão ocorreu no âmago da indústria automobilística. "O toyotismo inverte esta relação: primeiro tem de vender e depois na medida em que se vendem os carros, são produzidos e demandados os componentes necessários para a montagem. Desta maneira o fluxo da produção, ou seja, a passagem contínua do objeto é que deve se modificar de uma fase a outra da produção (cuja cadeia de montagem, inventada por Ford em 1913, é o arquétipo), ou seja, tudo está sujeitado em função da demanda". GOUNET, Thomas. El toyotismo o el incremento de la explotación. Partido dos Trabalhadores da Bélgica (PTB),1998, tradução minha. Disponível em <http://www.wpb.be/icm/98es/98es11.htm>. Acesso em 31 ago. 2006. Recentemente, em evento do setor em junho de 2006, o presidente da América Latina Logística, Bernardo Hees, expôs seu método de formação de preços: "O meu preço eu fecho conversando com o caminhoneiro; ele é quem mais sabe quanto custa o frete. Não uso planilha ou pesquisas encomendadas". HEES, Bernardo. Apresentação. In: SEMINÁRIO BRASIL NOS TRILHOS, 2006, Brasília. No mesmo mês o executivo foi capa da revista "Você S/A", sob a manchete "Seja um líder influente", na qual é descrito como "articulado, capaz de influenciar funcionários, acionistas e o mercado". Revista Você S/A, São Paulo, Editora Abril, n° 96, jun. 2006, capa. RANGEL, Ignácio. "A dualidade básica da economia brasileira". In: RANGEL, 2005. Ver nota 11. Esse período é impreciso. Talvez devesse falar em 1871 a 1957, ano da estatização das ferrovias na RFFSA, ou 1871 a 1951, ano da aprovação na Câmara dos Deputados do Plano Nacional de Viação que consagrou o modo rodoviário como hegemônico no planejamento de transportes. Optei pelo ano 1945 porque um ano antes foi elaborado o aludido plano que somente seria votado no ano 1951, e quando acabava a Segunda Grande Guerra que mudaria a história internacional. Já vinha de décadas antes dos conflitos do século XX a discussão entre os ilustrados estadistas brasileiros sobre a "opção" por qual imperialismo, se o britânico ou o norte-americano, evidente na crítica à "ilusão americana" de Eduardo Prado contra aqueles que, querendo escapar do jugo inglês, viam nos EU uma libertação. Prado, desnecessário explicar, era partidário da permanência com os ingleses. PRADO, E. A ilusão americana. São Paulo: Alfa-Ômega, 2000. [12] BARAT, Josef. "Revista Brasileira de Economia, Rio de Janeiro, n. 23 (3), jul./set. 1959, p. 25-52". In: BARAT, 1978, p. 252. BRAGA, José Carlos de S.; AGUNE, Antonio Celso. Os transportes na política econômica: Brasil 1956-1979. Brasília: FUNDAP, 1979. BRAGA; AGUNE, 1979, p. 9. "[...] pois a realidade econômica objetiva sobrepõe-se aos conflitos momentâneos na superestrutura política e institucional". BARAT, 1978, p. 100. "A necessidade de planejamento econômico independe do marco institucional ou do sistema político das sociedades, e corresponde à aspiração geral de progresso material e padrões mais compatíveis de bem-estar social". BARAT, 1978, p. 99. Barat
cita Alan Abouchar. ABOUCHAR, Alan. Diagnostic
of transport situation in Brazil apud BARAT, 1978, p. 55. BARAT, 1978, p. 347. BARAT, 1978, p. 364. BRAGA; AGUNE, 1979, p. 14. BRAGA; AGUNE, 1979, p. 14.
|
||
| [ÍNDICE] | ||
| [PRÓXIMO CAPÍTULO] |