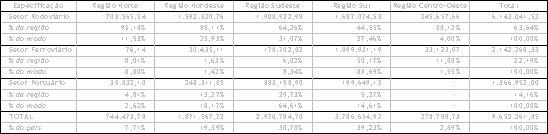| [ÍNDICE] | ||
| [CAPÍTULO ANTERIOR] | ||
|
Subdesenvolvimento e região |
||
|
Em primeiro lugar, parte-se para o rompimento com "as estruturas do passado". Qual delas? Neste caso, a ferrovia "regional" que ligava a produção-extração no interior com o porto de exportação no litoral. Essa ligação, por regra, cruzava a cidade intermediária do comércio, a mesma que teria sido o "pólo concentrador" de inovações tecnológicas interceptadas e berço da indústria nacional, como Lacoste apontou[1] e Barat observou. Segundo essa teoria do subdesenvolvimento, o setor moderno da economia teria sido "introduzido de fora para dentro num sistema econômico [...] [com] características de atraso".[2] Formaram-se daí as "estruturas híbridas de produção" de Lacoste, ou a forma atual da "dualidade básica" de Rangel.[3] Vejamos como Rangel coloca a questão.
Para Rangel, após a Segunda Grande Guerra, o mercado que era mundial teria se tornado mercado internacional, isto é, os negócios entre produtores privados ao redor do globo passaram a ser mediados pelos seus respectivos estados nacionais, mantendo-se a ficção do direito privado nas relações comerciais externas, o Governo do Estado teve de agir como árbitro entre dois mercados, um interno e outro externo, tornando-se ele mesmo, inclusive, Estado comerciante.[4] Essa dualidade entre setor interno e setor externo das economias nacionais era para Rangel a estrutura básica da economia brasileira já desde a era colonial, embora sem a figura noviça do Estado Comerciante. Para Rangel, como o "setor economia interna" nunca teria se pautado em nossa história igualmente ao "setor economia externa", a corrente política "estatista" nesse último setor não poderia ser compreendida como pura decorrência ou causa do "estatismo interno", que a precedia, principalmente porque ele narra a passagem do "mercado mundial de entes privados" para o "mercado internacional de entes públicos", uma novidade do pós-guerra surgida nas "relações externas de produção". "A rigor, nossa história acompanha pari passu a história do capitalismo mundial, fazendo eco a suas vicissitudes. O mercantilismo nos descobriu, o industrialismo nos deu a independência e o capitalismo financeiro, a república".[5] As sucessivas alterações nas "relações externas de produção", ou seja, na realização das mercadorias produzidas internamente (ainda não como mercadorias), condicionaria a adequação das "relações internas de produção" às primeiras, passando de uma estrutura "mais atrasada" para outra "mais avançada", o que para Rangel significava que o Brasil estava "queimando etapas".[6] "Os termos da antinomia mudam, portanto, ao passarmos de uma estrutura para outra, no espaço ou no tempo, embora perdure a própria antinomia. Certamente esse estado de coisas não é eterno. O desenvolvimento do capitalismo nacional age poderosamente no sentido da homogeneização da economia, mas esse resultado não pode ser alcançado a curto prazo. Assistimos, ao contrário, a um desenvolvimento desigual das diversas partes do país, caracterizando o fenômeno do subdesenvolvimento de umas regiões em relação às outras, o que representa nova fonte de dualidades".[7] Esse desenvolvimento desigual seria a expressão do desenvolvimento insuficiente e desconexo das novas forças produtivas no território brasileiro, o que implica definir que em nossa dualidade "o aspecto interno e o externo podem envelhecer em momentos diferentes ou, noutros termos, que a substituição de uma estrutura por outra não se processará obrigatoriamente no campo interno e no externo ao mesmo tempo".[8] É por caracterizá-la como heteronômica, que Rangel concebe que a economia nacional precisaria ter tratamento diferente para suas partes desiguais, sem exigir-se do planejador "coerência" nesse aspecto da política pública do estado central. Isso é o regionalismo. Tratava-se, então, de decifrar a dinâmica da formação dessas partes desiguais, e compreender qual o sentido da "homogeneização" identificada, para acelerá-la através do planejamento.
O avanço da industrialização urbana A industrialização, sucessora da estrutura primário-exportadora, teria se desenvolvido no meio do circuito de transporte montado por esta, entre interior e litoral, aproveitando seus centros de comercialização e embarque, onde teria polarizado fatores de produção e usado o acesso ao mercado consumidor interno com base no transporte de longa distância. Crescera, portanto, nas cidades, baseada nos fatores de produção favorecidos pela relação com o exterior e alimentando-se do consumo urbano e rural. Da relação de seu crescimento com a agricultura, diz Rangel que "a industrialização pode ser definida como um processo de transferência, para fora do complexo rural, de uma atividade [manufatureira desempenhada pelo próprio agricultor e sem recurso ao mercado] após outra, em condições que permitam progressos tecnológicos importantes".[9] Essa transferência geraria o mercado interno entre o complexo rural, que se simplificava, e o centro urbano, que se complexizava. O que foi posteriormente observado por Barat quanto ao papel do modo de transporte nesse processo: "A expansão rodoviária, ao consolidar a unidade do mercado interno, continuou a desempenhar para estes centros a função de transporte de longa distância, apenas substituindo o sistema anterior [ferroviário] mais voltado para os mercados internacionais. É interessante assinalar que a perda da base de exportação e a ausência de funções regionais próprias, em um grande número de cidades, se deram paralelamente à disponibilidade do transporte rodoviário de longa distância, sem adequada comunicação local. Aceleraram-se, assim, processos de esvaziamento econômico, acentuando-se o processo de concentração econômica em poucas cidades primazes".[10] Isso quer dizer que houve cidades que, por estarem mais dependentes daquele sistema anterior, teriam ficado desfavorecidas no processo de geração do novo sistema ("ausência de funções regionais"), evidência de que, se era verdade que estava nas cidades o resultado da dissolução do complexo rural ("esvaziamento econômico"), havia cidades que prevaleciam sobre outras nesse processo, de maneira que esse esvaziamento econômico espraiava-se inclusive sobre "um grande número de cidades". Para o planejador Barat, o estudo do desenvolvimento regional coincide, portanto, com o problema do "subdesenvolvimento". Segundo a teoria do planejador, repete-se, "dentro de um espaço nacional, idêntico fenômeno verificado no quadro internacional".[11] As causas das desigualdades regionais para o autor seriam assim explicadas: "(...) O livre jogo das forças de mercado, ao contrário da concepção clássica da teoria econômica, atua no sentido de aumentar (e não diminuir) as desigualdades regionais, gerando um processo cumulativo de expansão nas áreas que já dispõem de economias externas (mão-de-obra qualificada em vários níveis, comunicações fáceis, etc.)".[12] Assim, a transferência das atividades manufatureiras "para fora do complexo rural" tendia ao esvaziamento econômico "local" e à concentração "em poucas cidades primazes", o que responde a questão que coloquei no bloco anterior: a dinâmica da formação das partes desiguais de nossa economia estava na dissolução do complexo rural, e o sentido da homogeneização da economia era forçado pelo planejamento estatal da industrialização urbana. Mas essa homogeneização não era imediata, muito menos acontecia em processo equilibrado em todo o território nacional. O desequilíbrio regional identificado por Barat estava em duas categorias, uma setorial, onde haveria o embate entre (1) agricultura atrasada e (2) indústria moderna; e outra estrutural, onde haveria o embate entre (1) modo pré-capitalista de produção e (2) modo capitalista de produção.[13] Embora possamos, acertadamente, identificar os estatutos jurídicos de um modo capitalista de produção existindo no Brasil desde 1888 segundo os critérios de Oliveira,[14] ele só foi plenamente urbano com a indústria moderna do século passado. E das cidades partiu o movimento de industrialização do país, para cima do território da agricultura "atrasada". Politicamente, portanto, o desenvolvimentismo como corrente de pensamento estava justamente condicionado ao embate com o passado primário-exportador, rural de nossa economia. Desse primeiro movimento derivou a idéia de que era preciso romper com os elos internacionais das oligarquias urbanas da economia anterior, tal como colocado no primeiro capítulo, que resultou na rejeição do modo ferroviário de transporte. Pretendia-se inverter o capital financeiro em favor da indústria e desenvolver a sua economia sobre a antiga. Logo, não era simplesmente uma disputa cidade-campo; era também uma disputa intra e interurbana, aí a expressão da complexidade da formação econômica brasileira, onde os interesses de um "setor agrário atrasado" estão imersos no meio urbano, e os interesses de outro "setor industrial moderno" são apoiados sobre estruturas pré-capitalistas herdadas do período de primazia daquele "setor atrasado". Na disputa internacional das elites brasileiras, tinha de haver para a indústria moderna das cidades um novo elo internacional que substituísse o inglês, daí a associação aos Estados Unidos para o desenvolvimento nacional, no qual contribuiria a indústria automobilística, como descrito no terceiro bloco do primeiro capítulo. O seu futuro posto de líder na indústria "de ponta" foi assim preparado pela elite provinciana que sonhava emular um modo de vida norte-americano idealizado.[15] Só assim a indústria automobilística vingou financeiramente; não foram "as livres forças de mercado" apontadas pela teoria de Barat que lograram esse feito. Tampouco esse processo culminou em "homogeneização da economia", como prognosticara Rangel, cujas causas veremos mais adiante. Por esse procedimento, as forças econômicas derrotadas nessa dinâmica foram mantidas cativas em "regiões", reproduções em escala daquilo que se passava entre as nações. A hegemonia do setor avançado da industrialização rodoviarista estava no Centro-Sul, com hepicentro em São Paulo. Porém, irresistivelmente, o "subdesenvolvimento" parecia tender a se reproduzir em miniatura! Segundo a teoria de Barat, repete-se, "dentro de um espaço nacional, idêntico fenômeno verificado no quadro internacional".[16] O planejamento regional é dessa maneira decorrência lógica da teoria do subdesenvolvimento. Logo, o "problema" do subdesenvolvimento seria enfrentado pelos planejadores em dois fronts da União: o com as nações e o com as regiões.
Comunicação e concorrência inter-regional O enunciado teórico do regionalismo para os transportes: "Se um determinado setor da economia local é afetado por uma desvantajosa competição com outras regiões ou por uma transferência de mão-de-obra e capital, como resultado de um investimento em transportes, e se estas perdas não são compensadas por uma expansão em outros setores desta economia, este investimento reforçará a tendência no sentido de ampliar o desequilíbrio regional".[17] A indústria "regional" teria subsistido em seu mercado consumidor graças à "proteção natural" da pouca integração dos transportes com outras regiões, com o resto do país, condição esta criada pela opção em conter a extensão das ligações de longa distância "regionais" por ferrovias. Isto quer dizer que a região, tal como se a queria entender, como um ser "natural" com fronteiras definidas, era uma criação do planejamento de transportes, e que com isso distorcia a abstração de outras áreas do conhecimento, como a botânica, a geologia, ou a antropologia.[18] Tendo havido o aumento da acessibilidade pelo investimento em infra-estrutura de transportes e o ulterior prolongamento "até as regiões" das rodovias troncais, Barat via com pesar a "desagregação deste sistema industrial" pela concorrência da baixa produtividade e obsolescência de seu capital contra "o capital da região desenvolvida".[19] Mais do que esse aspecto avistado pelo planejador, essa desagregação seria a destruição da região "natural", ferramenta essencial de planejamento forjada na edificação do estado nacional-desenvolvimentista. A atuação desse estado tendia, todavia, à sua própria destruição e à conseqüente invalidação do pacto que estabelecera aquele estado. A preservação das regiões, portanto, passou a ser um objetivo da preservação do próprio Estado Nacional, cujas razões seriam, então, razões de Estado. O regionalismo como razão de Estado tinha o propósito prático de sustentar o desempenho da economia regional nordestina nos anos 1970 dependente da SUDENE. Como o planejador Barat escreveu à época, "pode-se dizer, ainda, que o desenvolvimento econômico do Nordeste está repetindo, em escala menor, aquele processado no centro-sul, uma vez que sua base é um processo de substituição de importações provenientes do centro-sul, visando ao setor industrial da economia nordestina, principalmente o atendimento do mercado regional".[20] Esse desempenho seria devido à intervenção da SUDENE: "(...) Com a implantação da SUDENE, tem o Governo Federal procurado implementar na região nordestina um processo de desenvolvimento econômico auto-sustentado, através de uma ruptura no mecanismo de mercado, que tradicionalmente vinha atuando contra a Região".[21] Segundo o planejador, portanto, romper o "mecanismo de mercado" com a intervenção da SUDENE seria conceder ao Nordeste um "processo de desenvolvimento auto-sustentado", como "processo de substituição de importações", para repetir o feito do centro-sul. Aqui vê-se a relação causal entre a teoria do subdesenvolvimento e a teoria da região. Esta última considera uma fração do território nacional subdesenvolvida em relação a outra, assim como era o subdesenvolvimento nacional em relação às outras nações. Estabelecida a idéia de uma tal relação entre essas duas teorias, deriva-se uma outra relação entre as conseqüências do desenvolvimento industrial do centro-sul, engendrado pela aplicação prática da teoria do subdesenvolvimento no Estado Nacional, e suas semelhanças com o desenvolvimento industrial do nordeste através de um órgão regional desse Estado Nacional, a SUDENE. Mas se tal semelhança aventada entre os dois eventos for o processo de industrialização por substituição de importação, pelo qual o nordeste estaria "repetindo" o centro-sul e, portanto, se igualaria a ele no futuro decorrente, importa ver as diferenças fundamentais entre os dois eventos. E isso porque, se a industrialização do centro-sul ocorreu pela substituição de importações internacionais, a partir da infra-estrutura montada anteriormente pelo ciclo primário-exportador, e usando de seus acessos como descrevi antes, o fez tanto pela peculiaridade de "seu ciclo" primário-exportador, quanto o nordeste deixou de fazê-lo. Daí que, embora haja "importação" de manufaturados do centro-sul pelo nordeste, o "rompimento desse mercado" e a sua substituição por "indústria nordestina" não implicaria necessariamente em aproveitamento de infra-estrutura montada por ciclo econômico de exportação predecessor, entre o "subdesenvolvido" e o "desenvolvido": qual ciclo econômico nordestino com o centro-sul? A própria SUDENE fora criada não para "diminuir" as desigualdades criadas pela industrialização do Sudeste, mas por pleito político nordestino face o crescimento industrial do Sudeste, "ao lado da ausência de correspondente crescimento no Nordeste".[22] Com a competição instalada entre as indústrias das duas regiões, evidencia-se o processo deletério da capacidade produtiva nordestina, que ao mesmo tempo tende a "desindustrializar-se" pela transferência de capital da região mais pobre para a mais rica, como conseqüência do processo, não como causa[23], e a especializar-se na provisão de agricultura de consumo no mercado interno. Se para Oliveira a "desindustrialização" do nordeste era conseqüência do processo, significava que a industrialização do centro-sul não era feita aproveitando-se da evolução da manufatura ou indústria nordestina, mas somente que era feita sobre o seu mercado consumidor. Isto seria, todavia, ainda a "dissolução do complexo rural" no país e a conseqüente especialização do nordeste em fornecimento de agricultura de consumo no mercado interno, primeiro estágio do processo de industrialização do setor avançado da economia nacional, encontrado no centro-sul, que era, assim, necessariamente "desindustrializador" do nordeste. "Uma das condições viabilizadoras desse processo foi, sem dúvida, a melhoria das vias e do sistema nacional de transporte, que quebrava, assim, uma das barreiras 'invisíveis' que protegiam a produção industrial nordestina".[24] Barat já reconhecia que "este setor industrial nascente protegeu-se da competição com as importações do centro-sul em virtude da completa ausência de integração das duas economias", ou seja, a ligação entre o pólo interno e o pólo externo da relação de dependência que teorizava entre nordeste e centro-sul era fraca. Ora, se é admitido que não há a infra-estrutura de transportes básica do ciclo "subdesenvolvido" anterior, em que bases se podem comparar os dois processos? Mais grave é ignorar que a própria teoria da substituição de importações brasileiras pressupunha um importante comércio internacional de compra de bens de produção indispensáveis para o desenvolvimento de nossa nascente indústria periférica. No caso nordestino, o isolamento físico não deixaria caminho para o aumento do intercâmbio inter-regional, de maneira que a sua própria industrialização estaria assim condicionada à entropia, se isolada, ou a deliqüescência, uma vez aberta à competição[25]. Além dessa teoria de Barat não evidenciar em quais infra-estruturas de transporte então cresceria "o mercado interno nordestino", ela ainda ignora que a industrialização do centro-sul foi programada com as reservas das exportações de todo o país, e bancada pela balança comercial da agricultura exportada —antes de ela servir o consumo urbano no centro-sul e ser também o mercado interno consumidor de sua indústria. Não se pode comparar os dois processos sem questionar: e para o caso da industrialização "nordestina", quem seria o seu mercado interno? A sua periferia rural de latifúndios? Onde está o seu Estado para transferir renda de outro setor para a indústria? Ou colocando a questão em seu devido lugar, o que o Governo do Estado Nacional projetou para o seu futuro?
Investimentos para igualdade inter-regional Tabela 2 – Investimentos federais por região e modalidade 1970-1972 (anos acumulados, milhares de cruzeiros de 1974) [26]
Comparem-se os dados da tabela: há pouco investimento federal em ferrovias no período dos três anos centrais do "milagre econômico de Delfim" de 1968 a 1974, dado que os quase 90% dos investimentos nesse modo de transporte foram feitos na região sul, o que não passou da metade dos investimentos recebidos pela região. Os 45% fixados pelo rodoviário nessa região foram, todavia, apenas 27% de todo o investimento rodoviário, o qual chegou a atingir no período 64% de todo o investimento em transportes. Na região nordeste, por sua vez, investiram-se 19% de todo o investimento em transportes. Dessa parcela, 85% foram para o modo rodoviário, em oposição ao ferroviário que não atingiu nem mesmo 2% dos investimentos na região nordeste! Aí está a resposta à questão colocada no fim do bloco anterior: o "desequilíbrio inter-regional" é criado e recriado pela política de investimentos em transportes do Governo Federal. Percebe-se como o modo rodoviário destoa dos outros modos, retirando qualquer base de comparação sobre a eficácia dos investimentos modais, distorcendo inclusive as opiniões do planejador sobre esses números, que assume que a tabela "[...] mostra que a modalidade rodoviária é a que apresenta maior equilíbrio na distribuição inter-regional de recursos para investimento e maior potencial de atenuação de desníveis regionais [...]".[27] Pouco efeito tem essa afirmação quando se sabe que a questão não é qual modo de transporte elimina desigualdades regionais, é haver ou não vias de comunicação. As discrepâncias entre a rodovia e ferrovia e hidrovia nesse período histórico já eram tamanhas que nem eram mais nítidas, induzindo o planejador ao erro de leitura do funcionamento da economia e, com isso, à acentuação dos seus problemas crônicos. Para que se possa compreender as ações do planejamento econômico que exacerbaram essas discrepâncias e as levaram a esses limites, agora que já passei pelos temas do "subdesenvolvimentismo" e do "regionalismo", é preciso ainda detalhar os fundamentos das diferenças entre o transporte rodoviário e o ferroviário, e que se revelam nas características técnicas da produção do serviço de transporte, onde os subsetores do planejamento aparecem como modos. LACOSTE, Y. Lês pays sous-dévéloppées. Paris: Presses Universitaires de France, s.d. apud BARAT, 1978. BARAT, Josef. "Síntese Política Econômica e Social. Rio de Janeiro, n. 9 (36), out./dez. 1967, p. 5-30". In: BARAT, 1978, p. 227. RANGEL, Ignácio. "A dualidade básica da economia brasileira". In: RANGEL, Ignácio. Obras reunidas. Rio de Janeiro: Editora Contraponto, 2005, v.1. RANGEL, Ignácio. "A dualidade básica
da economia brasileira". In:
RANGEL, 2005, p. 348. RANGEL, Ignácio. "A dualidade básica da economia brasileira". In: RANGEL, 2005, p. 302. "Nos primeiros quatro séculos de nossa história, vencemos um caminho correspondente a, pelo menos, quatro milênios da história européia, do ponto de vista de nossa economia interna, e a mais ainda, se tomarmos por termo de comparação a história asiática". RANGEL, Ignácio. "A dualidade básica da economia brasileira". In: RANGEL, 2005, p. 302. RANGEL, Ignácio. "A dualidade básica da economia brasileira". In: RANGEL, 2005, p. 301, grifos meus. RANGEL, Ignácio. "A dualidade básica da economia brasileira". In: RANGEL, 2005, p. 304, grifos meus. RANGEL, Ignácio. "O desenvolvimento
econômico no Brasil". In:
RANGEL, 2005, p. 100. BARAT, Josef. "Revista Brasileira de Economia, Rio de Janeiro, n. 27 (4), out./dez. 1973, p. 51-83". In: BARAT, 1978, p. 159. BARAT, Josef. "Síntese Política Econômica e Social. Rio de Janeiro, n. 9 (36), out./dez. 1967, p. 5-30". In: BARAT, 1978, p. 225. BARAT, Josef. "Revista Brasileira de Economia, Rio de Janeiro, n. 23 (3), jul./set. 1959, p. 25-52". In: BARAT, 1978, p. 246, grifos meus. BARAT, Josef. "Síntese Política Econômica e Social. Rio de Janeiro, n. 9 (36), out./dez. 1967, p. 5-30". In: BARAT, 1978, p. 228. OLIVEIRA, 1989, p. 13, conforme transcrito na nota 6. O trabalho político e ideológico de adidos e empresários norte-americanos para abrir caminho no Brasil para a sua indústria automobilística e ideologia rodoviarista é denunciado por Moniz Bandeira, em Presença dos Estados Unidos no Brasil, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978, e minuciosamente tratado na tese de doutorado de Marco Aurélio Lagonegro. LAGONEGRO, 2003. BARAT, Josef. "Síntese Política Econômica e Social. Rio de Janeiro, n. 9 (36), out./dez. 1967, p. 5-30". In: BARAT, 1978, p. 225. BARAT, 1978, p. 249, grifos meus. A conseqüência mais perfeita da teoria regionalista é a tentativa de sintetizar, dentro de um território delimitado, toda sorte de características que lhe seriam exclusivas, tanto das espécies botânicas, quando das manifestações geológicas e antropológicas, dando origem a termos absurdos como planalto paulista, planalto do mato-grosso, semi-árido baiano, e outros semelhantes. BARAT,
1978, p. 253. BARAT,
1978, p. 237. BARAT,
1978, p. 237. OLIVEIRA, 1989, p. 57. OLIVEIRA, 1989, p. 58. OLIVEIRA, 1989, p. 58. Nessas mesmas páginas há dados da posterior desruralização do sudeste e da ruralização do sul e nordeste, somada a estagnação do norte; diferente é o caso da "industrialização rural" do centro-oeste, com o beneficiamento do agribusiness, setor mais moderno da agricultura, ou lado externo do pólo interno nos termos de Rangel. Nesse caso, não se deveria nem mesmo falar em "industrialização", mas somente em um arremedo dessa, nada mais do que uma "proliferação de unidades produtivas artesanais". RANGEL, Ignácio. "A dualidade básica da economia brasileira". In: Rangel, 2005, passim. Fontes: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM (DNER); DEPARTAMENTO NACIONAL DE PORTOS E VIAS NAVEGÁVEIS (DNPVN); DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE FERRO (DNEF). In: BARAT, 1978, p. 357-8. Onde o autor escreveu "setor rodoviário", refere-se à construção e pavimentação; no ferroviário, refere-se a investimentos apenas em infra-estrutura, incluindo FEPASA e EFVM; no portuário, quantifica recursos do FPN e do FMP. BARAT,
1978, p. 356.
|
||
| [ÍNDICE] | ||
| [PRÓXIMO CAPÍTULO] |