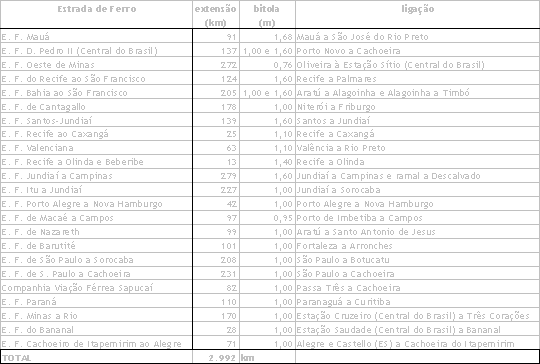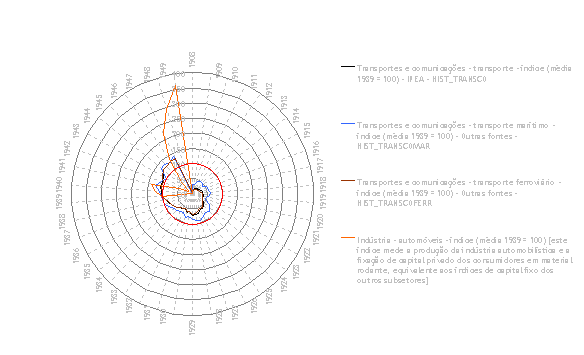| [ÍNDICE] | ||
| . | ||
|
Entre exportações primárias e industrialização |
||
|
O modo de transporte ferroviário na República Velha O modo de transporte ferroviário importado para realizar as exportações brasileiras nas três últimas décadas do século XIX trouxe consigo um modo industrial de transporte, conquanto os seus meios físicos fossem produzidos longe daqui. Após a Lei nº 2450, de 24 de setembro de 1873, complementada pelo Decreto nº 5564, de 28 de fevereiro de 1874, as garantias de juros abriam incentivos à entrada de investimentos na indústria ferroviária no Brasil.[1] Produzindo os meios de produção do serviço de transporte fora do país, e realizando esse serviço em modo industrial aqui, a indústria ferroviária dividia-se internacionalmente para adequar-se à forma da economia brasileira, qual seja, de uma existência dual de relações internas de produção e relações externas de produção. Pelo lado externo, com que se relacionava com a indústria ferroviária inglesa, a economia brasileira mantinha relações capitalistas de troca de mercadorias: comprava os serviços das ferrovias em libras esterlinas, do mesmo modo como fazia a venda de seus produtos de exportação carreados por aquelas ferrovias. Já dentro do país, no território das relações internas de produção, as ferrovias inglesas importadas iam buscar aqueles mesmos produtos no interior das províncias, onde eram produzidos em relações pré-capitalistas de produção, pelo trabalho escravo.[2] Isso significava que a mesma indústria de transporte ferroviário, incluindo produção e uso do material, lidava com uma economia dual, complexa e descontínua, dividida em setor externo e setor interno, cuja fronteira era marcada pela troca da forma de valor, isto é, o câmbio monetário entre mil-réis e libra esterlina.[3] Daí que esses dois setores da economia brasileira relacionavam contraditoriamente a produção por trabalho escravo com sua exportação pela infra-estrutura importada, convergindo para um mesmo ponto de pressão, a taxa cambial, havendo segundo Oliveira "uma contradição entre a estrutura de produção e as condições de realização do produto",[4] pois "a base de infra-estrutura necessária para a expansão das culturas de exportação — as ferrovias e os portos — requeria também doses incrementadas de moeda externa, com o que as crises cambiais chegam quase a um estado crônico. A Abolição resolve um dos lados da contradição, transformando o trabalho em força de trabalho".[5] Dessa forma, o custo da sobrevivência dos escravos foi retirado dos custos de produção dos bens exportados. A transferência "para fora" desses custos de produção da unidade agro-exportadora significou, de fato, a transferência da gestão desse custo "para dentro" do país, isto é, a sobrevivência da maioria ex-escrava deixava de ser um custo privado de cada senhor exportador no exterior, para ser um custo da gestão pública no interior.[6] Mas a contradição entre o baronato brasileiro proprietário dos meios de produção (terras e escravos) frente o Estado proprietário da regulação (taxa cambial) segue irresoluta mesmo com o fim do estatuto da escravidão, agravada pelo outro fator a pressionar a taxa de câmbio: a manutenção da infra-estrutura de exportação. Essa era constituída nas seguintes estradas de ferro construídas até 1889: Tabela 1 – Estradas de Ferro existentes em 1889 [7]
Logo, especialmente após a Abolição da Escravidão em 1888 quando, "de classe dominante fundada pelo Estado, o baronato brasileiro [...] passava à condição de classe dominante que repudiava um tipo de Estado estranho aos seus interesses e, portanto, hostil",[8] a disputa pelo Estado é tomada "em forma aberta", para um instrumento de classe. "A Abolição é o fim do Império".[9] Começava a República. A Abolição não significou simplesmente o abandono do trabalho escravo e sua imediata substituição pelo trabalho livre como forma predominante. Antes, essa nova forma de trabalho tornara-se hegemônica primeiro nas indústrias nas cidades, aprofundando a "distância" entre cidade e campo. Neste último, a maioria dos trabalhadores que passaram a vender sua força de trabalho para os antigos senhores era composta dos mesmos homens e mulheres antes escravos. Mas essa "distância" entre trabalho no campo e trabalho na cidade foi explicada por Oliveira com o argumento de que esses trabalhadores não teriam podido acumular suficiente "virtude técnica" na etapa escravista anterior para ser adicionada à produção industrial urbana, daí que o progresso da industrialização nas cidades teria tido de trocar o uso da mão-de-obra escrava pela importação de operários europeus, os quais teriam predominado nas fábricas urbanas até 1920.[10] Essa explicação percebe o fato da discrepância entre o trabalho realizado na cidade e no campo; percebe, portanto, aquela existência complexa da economia brasileira mencionada, com relações de produção desiguais no território. Porém tende a compreender a industrialização urbana como um fenômeno absolutamente importado, exógeno à formação econômica brasileira, principalmente porque alheio à incipiente manufatura rural do período anterior escravista. Quem percebe uma virtual relação entre essa manufatura rural e o processo de industrialização é Rangel, para quem a industrialização brasileira tem sido, em suma, a dissolução do complexo rural pré-capitalista através da desincorporação das atividades manufatureiras de escravos não especializados, produzindo para consumo interno, para serem realocadas nas cidades. Esse processo seria seguido da especialização de trabalhadores livres nas cidades com "progressos tecnológicos importantes" e conseqüente especialização do complexo rural em simples fornecedor de mantimentos para o consumo interno das cidades. Por essa teoria, assim como para Oliveira, a condução do processo de industrialização tenderia a passar para as cidades, mas isso não implicaria em considerar aqueles trabalhadores saídos do complexo rural como desprovidos de "virtude técnica", pois para serem versáteis e suprirem a demanda de manufaturas da economia interna pré-capitalista, já teriam desenvolvido os rudimentos de uma manufatura nacional. A questão para Rangel estava em saber se essa virtude seria aproveitada para sua especialização nas cidades e desenvolvimento de uma indústria nacional, ou se a industrialização seria feita à sua revelia. Contudo, o próprio Rangel recorda que nesse período inicial "todos os mais velhos devem estar lembrados de que a Light, para implantar os serviços de bondes em nossas grandes cidades, teve que importar, desde o equipamento pesado para a geração e o transporte de energia, para o lançamento das linhas, até os próprios carris. Teve que importar também portugueses e barbadianos para tripular esses carris, dado que o Brasil não produzia homens com as qualidades exigidas".[11] Logo, segundo essa informação, mais a informação de Oliveira da predominância de operários europeus "importados" nas fábricas urbanas até a década de 1920, teria prevalecido nesse período inicial essa última resposta à questão.[12] Iniciado, portanto, com uma virtude técnica importada, em pequenos focos imersos em abundante mão-de-obra com baixo padrão técnico egressa da manufatura escrava, e ainda pressionado pela taxa cambial a internalizar o circuito "produção-financiamento-comercialização-acumulação-produção", o nascente modo capitalista de produção teve logo que se ver com as formas "atrasadas" que obstaculizavam seu desenvolvimento. Isso quer dizer que aquilo que uma vez serviu-lhe em estágio anterior de acumulação —especialmente a forma de financiamento da atividade exportadora— já deixava de ser fundamental, e pelo contrário: ameaçava o próprio prosseguimento da acumulação. Nesse movimento, dentro da classe dos proprietários destacava-se uma fração cuja riqueza era extraída do campo, ainda que os proprietários estivessem sediados nas cidades. Oliveira chamou essa classe de "burguesia-agrária", que quer dizer apenas isso: "burguesia" porque proprietária de meios capitalistas de produção, e "agrária" porque esses meios estavam fixados no latifúndio rural. Para essa "fração de classe", a própria forma de financiamento das exportações que era reiterada desde fora para dentro,[13] por uma necessidade dos ingleses, colocava-lhe um limite. Já para aquela outra fração da classe proprietária, cujo capital fixava-se em indústrias nas cidades, isso que para a "burguesia-agrária" era um limite, para ela era um impasse de obrigatória superação. Mas teriam sido os senhores do meio rural quem adiantaria os próximos passos da substituição de modo de produção: "Restava um segmento do processo de acumulação cujo controle escapava, no entanto, à nova classe social burguesa-agrária brasileira. Este se situava na esfera da circulação".[14] No centro da relação entre o lado interno e o lado externo da economia brasileira, que foi o que criou o impasse mencionado, estava a "circulação". E "circulação" aqui quer dizer circulação de capital, então a mais importante das mercadorias circuladas no lado interno da economia. Naquele circuito da economia exportadora de produtos primários, o segmento "financiamento" era mantido no lado externo da economia, sob o poder dos ingleses da City londrina, cuja intermediação financeira estava baseada na intermediação comercial feita pela Inglaterra.[15] E como o pleno desenvolvimento do modo capitalista de produção no território brasileiro teria por condição a internação desse circuito, isso é o mesmo que dizer que a apropriação desse último segmento do processo de acumulação teria por condição o desenvolvimento nacional. Desse modo, o controle desse segmento ainda alheio aos proprietários brasileiros seria disputado pelas "frações da classe" proprietária. Logo, o motivo para o desenvolvimento nacional não foi exclusivo da industrialização urbana, tampouco foi por ela capitaneado. Aqui compreende-se a importância em saber qual era a
forma concreta da "circulação" na atividade econômica
brasileira. A circulação de capital
(dinheiro em libras e meios de produção europeus) estava então
materializada na circulação física das
exportações, as mercadorias que se trocavam por tudo, incluindo
capital em dinheiro e bens de consumo. E se controlar a circulação era
o passo fundamental na luta pelo controle do desenvolvimento econômico
a partir de então, ficava claro para a indústria urbana que as
ferrovias "inglesas" no Brasil estariam, dessa maneira,
fadadas a sua "superação" junto com a do contrato
internacional que as mantinha. Praticamente, do ponto de vista dos
industriais urbanos, as ferrovias teriam de ser preteridas na função
da internação do circuito capitalista, fixadas que estavam no
"período primário-exportador" capitaneado pelo baronato agrário
travestido de "nova classe burguesa-agrária".[16] gráfico 1 – Evolução das exportações e importações 1871-1900 [17]
A integração da fronteira agrícola Com a ferrovia, o modelo de gestão empresarial no país já teria se inovado para padrões "capitalistas", "modernos".[18] Essa gestão não logrou, todavia, ser tão bem sucedida que conseguisse inovar a forma do trabalho inclusive nas unidades produtivas do Brasil, nem mesmo inovar como se produziam os materiais ferroviários que consumia, quanto mais os primários que transportava. Com tal carência, dependentes da matriz inglesa, as provações das ferrovias foram previsíveis e fatais. Sairia vitorioso a forma de trabalho tal como era feito nas unidades de produção primária do país, isto é, em transição de pré-capitalista para capitalista. A ferrovia não conseguiu, durante a operação de exportação, provar-se "viável" no sentido litoral-interior, segundo argumentou Barat.[19] Isto porque o dimensionamento de sua capacidade era determinado pela carga de exportação no sentido interior-litoral de grande volume de matéria-prima. No sentido inverso, as ferrovias eram usadas para a importação de bens manufaturados, comprados no porto; é dizer, comprados de estrangeiros, os mesmos que não vendiam o suficiente para que a carga da ferrovia pagasse os custos da empresa ferroviária. Por regra, esses bens chegados eram menos volumosos e, se bem que tivessem valores unitários relativamente maiores, o ganho com seu comércio, entretanto, nunca teria se equiparado ao custo gerado pela demanda de exportação.[20] Barat descreve esse processo: "Vale ressaltar que, dada a insuficiência das ferrovias —e mais tarde de rodovias, no seu primeiro estágio de construção— com traçado paralelo ao mar, houve historicamente no Brasil uma interdependência entre a ferrovia e a navegação. Assim, as ferrovias de uma dada região manipulavam cargas de exportação no sentido interior-litoral e seus retornos importados em sentido inverso. [...] Cabia à navegação neste sistema a ligação longitudinal entre os diferentes pólos primário-exportadores".[21] A ferrovia era, segundo essa descrição, subscrita ao "domínio regional". A união entre "regiões", isto é, a integração nacional, era feita por cabotagem, simbolicamente "fora do país", ou fora do "território" dividido e em disputa entre "os diferentes pólos primário-exportadores": era feita pelo mar de domínio nacional. O sistema ferrovia-porto-navio teria assim, segundo a leitura do planejador Barat em 1971, atendido aos interesses nacionais até os anos 1930, dentro do período primário-exportador, em circuitos "regionais" enquanto não havia integração nacional, não havia União. No entendimento do planejamento desenvolvimentista, embalado no processo de industrialização por substituição de importações, o sistema ferrovia-porto-navio não tinha caráter nacional porque não era voltado para o mercado interno. Mais do que isso, o caráter nacional após a Segunda Grande Guerra esteve condicionado internacionalmente de maneira a suprimir suas fragilidades, critério no qual a navegação por cabotagem, parte fundamental da antiga forma de união nacional, mostrara sua "vulnerabilidade estratégica".[22] Tratava-se, pois, de internar a união nacional no território, conseqüência material da aplicação da idéia de Furtado de "internação do centro de decisão do país".[23] "Os sistemas ferroviários regionais, por conseguinte, devido à origem dos seus traçados, contribuíram pouco para a unificação de mercados e a integração da fronteira agrícola em expansão, necessárias à consolidação das etapas superiores do processo de industrialização".[24] Essa é mais uma condição à interpretação da função dos sistemas de transportes para o modelo de desenvolvimento que seria levado a cabo no século XX segundo o planejador Barat em 1971: a "integração da fronteira agrícola", função fundamental para a "consolidação das etapas superiores do processo de industrialização". Se onde estivesse a "fronteira agrícola" do período primário-exportador, a sua ligação aos portos era por ferrovias, como foi o caso da cafeicultura paulista,[25] isso quer dizer que a posição da fronteira agrícola já havia traçado as ferrovias. E se isso representasse "contribuir pouco para a unificação de mercados e a integração da fronteira agrícola" a esses mercados, isso significa que essa fronteira agrícola já não poderia mais participar da economia nacional da mesma maneira como antes. Não se tratava mais daquela fronteira agrícola, mas de uma nova, ou posto de outra maneira, não se tratava mais de ligar-se ao mercado externo, mas ao interno. O Governo agiu a partir das condições encontradas no sistema de transportes após a Segunda Grande Guerra. E porque o fluxo litoral-interior de retorno do trajeto de exportação da ferrovia era muito inferior ao de saída, ainda que mais valioso por unidade de peso, a rodovia se adaptaria melhor à nova situação, pensou Barat.[26] Não apenas para esse tráfego "distribuidor" da importação dentro do ciclo de exportação, como logo para os novos trajetos do mercado interno nascente das substituições de importações.[27] A solução do planejamento da infra-estrutura foi fazer a importação da indústria rodoviária norte-americana em substituição à importação dos produtos e serviços da indústria ferroviária inglesa que não cumpriria adequadamente a função de desenvolvimento do mercado interno segundo o projeto de desenvolvimento nacional. Este significava para o planejador a ligação dos centros industriais urbanos "à fronteira agrícola em expansão", esta que, deslocando-se, deveria ser acompanhada pelas vias de transporte. O movimento do desenvolvimento industrial interno ficaria desde o início condicionado a essa dinâmica: primeiro o deslocamento da fronteira agrícola, secundado pela sua ligação aos centros urbanos. Em que se basearia tal condicionamento? No papel que a agricultura de abastecimento do mercado interno teria no desenvolvimento industrial, inegavelmente importantíssimo. Essa importância está mais além da noção óbvia da subsistência alimentar. Está naquilo que Rangel chamou de "mecanismo institucionalizador da inflação". A inflação, sabe-se hoje, é síndrome que acompanhou e acompanha o desenvolvimento da economia brasileira, não sendo mera conseqüência secundária ou defeito do processo, mas parte estrutural da economia nacional.[28] A contribuição da agricultura de consumo interno nessa inflação estrutural se deu através da sua ação como oligopólio-oligopsônio,[29] por meio do que pôde ditar os preços dos "artigos de boca", cuja inelasticidade de demanda é sabida. Manipulando os principais preços da cesta básica do trabalhador, manipulava o principal "custo" variável do capital industrial, que é a massa salarial, mais do que o seu investimento em capital fixo. A importância prática dessa teoria da origem do "mecanismo institucionalizador da inflação" é fazer-nos compreender onde estão as causas que possibilitavam que o latifúndio feudal[30] atuasse dessa maneira. Rangel especulou que tudo se resumia ao "apoio que o Estado dá ao oligopsônio-oligopólio de bens agrícolas".[31] Segundo sua argumentação, não havia "imperativo técnico ou econômico" que justificasse tal poder, dado que a fronteira agrícola já fora ligada aos centros urbanos consumidores através das rodovias, o que implica em inferir que o serviço de transporte que o oligopólio-oligopsônio antes "prestava em condições precárias e feudais" tornara-se capitalista, por suposto. Isto é, com a rodovia, a própria forma do serviço de transporte da carga da fronteira agrícola até os centros urbanos consumidores teria se inovado para formas capitalistas, restando como poder ao latifúndio feudal, portanto, os privilégios jurídicos e políticos, expressos nas Comissões de Abastecimento do Governo do Estado. Suponho que, embora Rangel esteja correto em tese quanto à determinação do aparato político na manutenção desse estado de coisas, isso não se dava somente através das sucessivas Comissões de Abastecimento. Mais do que isso, a própria forma da união do mercado interno, isto é, da ligação dessa fronteira agrícola aos centros consumidores internos feita por rodovias planejadas pelo Estado, condicionou e garantiu a manutenção da hegemonia do latifúndio feudal no ditame do curso do desenvolvimento industrial nas cidades, através tanto do mecanismo da inflação —para o qual também concorre de maneira geral o próprio modo rodoviário, como busco demonstrar na segunda seção—, quanto do tipo de relação estabelecida pela rodovia que impede a industrialização completa dos serviços de transporte, e com isso obsta o desenvolvimento pleno e nacional do modo capitalista de produção no território do Estado Brasileiro. Todavia, o conhecimento desse movimento da industrialização (e da urbanização como um todo) dependente dos ditames do latifúndio feudal implica necessariamente em suspender o juízo de que o deslocamento sucessivo da fronteira agrícola tenha sido impulsionado pela urbanização interna recente, e implica apontar o contrário: que a urbanização interna se tornaria dependente da expansão rural sobre os fundos territoriais[32], esta por sua vez dependente da urbanização e industrialização externas. Por isso, é lícito duvidar-se da teoria econômica que postula que a atividade industrial tende a subjugar a agricultura a mera "provisora de bens de subsistência" às atividades urbanas, ou seja, que o campo submeteria-se automaticamente à cidade como fornecedor de artigos de consumo, principalmente de alimentação. No caso brasileiro, a dúvida permanece se não teria sido a atividade agro-exportadora a garantidora da existência da industrialização urbana, como pagadora dos balanços comerciais que lhe possibilitassem o crédito estatal subsidiado e, portanto, a proteção macroeconômica nas relações externas de produção que dessem chance ao desenvolvimento de novas relações internas de produção. A tese de que a industrialização e o desenvolvimento econômico só seriam possíveis de acontecer com reforma agrária foi criticada teoricamente por Rangel[33] e desmentida pela história, colocando-nos a questão de como esse desenvolvimento do mercado interno sem reforma agrária condicionou a própria forma do mercado, materializado nas ligações rodoviárias. Se a industrialização urbana no Brasil tiver sido assim dependente da agro-exportação, mais do que esta dependente da industrialização interna, ganha novos contornos a interpretação das opções de planejamento da integração nacional e da forma do mercado interno ligado pelas rodovias. Do "rodoviarismo" conseqüente dessa opção conhece-se aqui sua origem, a expressão crua de um estado territorial amadurecido sem reforma agrária. Importa agora saber por que a opção rodoviária aparecia para o planejador como imperativa. No gráfico 2, o perfil da formação bruta de capital fixado em construções de todos os tipos da administração pública republicana até 1945 é visto condicionado pela evolução do perfil daquele formado no modo ferroviário. No período de 1917 a 1922 deixam de importar tanto os meios de transporte nas contas nacionais, retornando no período entre 1922 e 1932. De novo depois de 1937, novo impulso construtivo do Estado além dos meios de transporte. gráfico 2– Formação Bruta de Capital Fixo em Infra-Estrutura 1890-1945 (R$ mil de 2004)[34]
No gráfico 3 o diagrama em forma de radar demonstra a evolução da fixação de capital por modalidade no período de 1908 a 1949, tomado como base o ano de 1939 (índice 100). A cor laranja da "manufatura de automóveis" mede a produção da indústria automobilística e a fixação de capital privado dos consumidores em material rodante, o equivalente aos índices de capital fixo dos outros modos. gráfico 3 – Índices de capital fixo no setor transportes, 1908-1949 [35]
Após a Segunda Grande Guerra, o Governo Federal encampou os ativos fixos das ferrovias e da navegação, tanto por pressão dos proprietários ingleses para liquidarem o seu patrimônio e migrar o capital de volta para a Europa em reconstrução, quanto para assumir o controle da circulação e poder dirigir o crescimento econômico. Tinha o Governo suas reservas cambiais adquiridas durante a guerra para a compra desse material obsoleto[36], o que ainda implicava em um aumento relativo dos gastos públicos e de seu déficit externo. O processo de substituições de importações tomaria nesse campo do modo de transporte a ação da troca do padrão inglês de ferrovia pelo norte-americano de rodovia. Isto é, deixava-se de "importar" um modo de transporte cuja forma de produção do serviço de transporte era "estranha" ao modo de vida brasileiro, para "importar" uma outra forma de produção em um modo de transporte que pudesse ser absorvido pelo modo de vida brasileiro, e "adequar-se ao modelo de desenvolvimento nacional", para então "substituir-se" sua importação. A gênese dessa substituição desenvolveu-se nas relações externas que cambiavam com as duas guerras, nas quais a emergente proeminência norte-americana se dava de maneira diferente da anterior inglesa, e sobre o espólio desta. E isso porque os norte-americanos se preocupavam em fornecer "alguns bens estratégicos" sem os quais a exploração da infra-estrutura dos países em sua zona de influência não teria avanço.[37] Os eventos históricos que possibilitaram o fornecimento desses bens à sua zona de influência no Brasil começaram pela "I Guerra, quando, ao se dificultar o comércio com a Europa, abriram-se as portas do mercado brasileiro aos Estados Unidos, os quais se tornaram imediatamente os maiores fornecedores do país".[38] Assim, o duplo condicionamento da substituição de imperialismo nas duas guerras internacionais foi, na primeira, o bloqueio do comércio com a Europa —que possibilitou o escoamento da produção dos EU para o Brasil e o nascimento precoce da indústria de autopeças nacional— e, na segunda, a ulterior destruição das cidades européias —que possibilitou a liquidação das ferrovias inglesas no Brasil e o casamento entre a indústria de autopeças nacional e as montadoras norte-americanas. Até mesmo na função da formulação das estratégias do desenvolvimento, tão assumidamente nacionalistas até meados de 1950, foram os norte-americanos que tomaram a dianteira. A Comissão Mista EU-Brasil em 1951-2 deu início ao planejamento econômico no país que resultaria na identificação dos pontos de "estrangulamento" e "germinação" adotados no Programa de Metas de 1956-60. Ficou constatado pela Comissão Mista que a carência da infra-estrutura energética e de transportes estrangulava o desenvolvimento do País.[39] As tendências de expansão do sistema de transportes no período 1930-55, segundo Barat, seriam a implantação de eixos rodoviários paralelos às ferrovias e a ligação das "regiões remotas" do país por via aérea.[40] A ferrovia havia sido passada para trás, tanto na ligação de longa distância, feita por avião, quanto naquelas em que já estava empregada, sofrendo a concorrência direta da rodovia. O próprio relatório feito pela Câmara dos Deputados em 1951 sobre o Plano Nacional de Viação de 1946 —o qual era baseado no Plano Rodoviário Nacional de 1944— invocou os dizeres do recém-realizado 2º Congresso Brasileiro de Engenharia e Indústria, no Clube de Engenharia, rogando "que se reserve para a navegação fluvial e para as rodovias a função pioneira de vias de penetração de superfície".[41]
Os eixos pré-existentes de ferrovias não são preferidos para estender a urbanização em rodovias alimentadoras: substituem-se aqueles eixos antigos por novos de rodovias, de um novo período de desenvolvimento, expressão clara de uma troca de rumos da economia nacional. Para os planejadores do Plano Nacional de Viação de 1946, revisto em 1951, a integração das regiões remotas ao centro do país já "não tem a importância que antes apresentara, porque essa integração se opera pela aviação e pelo rádio".[42] Assumem os planejadores deputados "que o papel pioneiro de despertar essas zonas e aí criar riquezas, cabe às estradas de rodagem".[43] Essas três citações mostram como os planejadores nas décadas de 1940-50 transformaram a possibilidade daquela forma de integração nacional com a ferrovia em política nacional de divisão. Pois a integração nacional que unia três formas de relação na ferrovia: viagem, comunicação e comércio, foi dividida em três atividades isoladas, sendo a primeira atividade restrita ao avião, de preço unitário relativamente mais caro, a segunda ao rádio, sem contato humano direto, e a terceira, a maior geradora de divisas, à rodovia. A opção pela rodovia foi assim tida posteriormente por "contraditória": a um tempo rompendo com as "estruturas do passado", materializadas nas ferrovias "regionais" e "oligárquicas", mas também optando por um modo de transporte que fosse mais "adequado" ao estágio do subdesenvolvimento nacional, contemporizando com o abundante baixo padrão técnico do trabalho brasileiro e com o isolamento populacional. Mais que isso, abriu mão da ambição de "vencer sobre o atraso" por uma evolução do conjunto da população no território nacional unida em comunicação, transporte e comércio, opção aventada nos planos ferroviários do Segundo Império e persistente até o Plano Nacional de Viação de 1934,[44] em troca da seleção da "fatia comércio" para a rodovia e do tratamento especializado das "regiões remotas" com o uso do rádio para difusão de informação e propaganda, e do avião para o acesso privilegiado após o Plano Nacional de Viação de 1946. Vejamos como essa contradição que apontei foi conseqüência de uma questão mal respondida, sobre qual seria a importância do modo de transporte na estrutura do modo capitalista de produção que se planejou construir no território brasileiro. Será preciso abrir um parênteses nessa retrospectiva, e rever os temas do "subdesenvolvimento" e "região", para se ter marcada a idéia de planejamento então corrente e identificar a origem e as conseqüências dessa questão, antes de se ver o que em seu nome foi aplicado pelo Governo do Estado. A lei, reedição aperfeiçoada da nº 641 de 1852, garantia juros de 7% sobre o capital empregado na construção de ferrovias, sendo que se os dividendos da operação superassem 8%, o Tesouro Nacional receberia um porcentual da receita líquida, crescente com o nível de dividendos. A concessão seria por prazo máximo de 30 anos para operação, e 90 anos para posse de zona com largura de 33km para cada lado do eixo da via. Estariam aptas empresas que residissem oficialmente no território brasileiro e comprovassem receita líquida anual de 4% sobre o capital empregado, escolhidas por concorrência pública, dando privilégio às concessões ferroviárias que se interligassem a hidrovias. O Império cobrava que fossem descontadas as tarifas sobre deslocamentos de tropas militares, funcionários públicos e colonos, e a redução das tarifas quando os dividendos excedessem a 12% em dois anos consecutivos. O Tesouro Nacional poderia participar com até 20% do capital de construção, podendo pagar mais através da subvenção quilométrica, alternativa à garantia de juros, a pagar por quilômetro avançado o proporcional em capital acionário. Além de seus próprios incentivos, o Império podia ser avalista de concessão provincial com até cem mil contos de réis, garantindo 7% de juros ou 20% de subvenção quilométrica. Em BRANCO, José Eduardo Castello. Retrospectiva do financiamento público ao setor ferroviário. Disponível em: <http://www.antt.gov.br> Acesso em: em 18 ago. 2005. Tanto a distinção entre "relações internas" e "relações externas de produção", quanto a caracterização de "relações pré-capitalistas" e "relações capitalistas de produção" na formação econômica brasileira são categorias usadas por Ignácio Rangel para compreender as variações nacionais às regras do desenvolvimento econômico segundo a teoria marxista. Eu escolhi seguí-las porque foram essas as mesmas categorias usadas pelos planejadores durante o período de planejamento do desenvolvimento econômico brasileiro no século XX, com o que planejavam dar conta tanto da explicação mais geral do desenvolvimento econômico do Brasil, quanto da análise da evolução da relação das indústrias de transporte com a nossa economia. RANGEL, Ignácio. "O desenvolvimento econômico no Brasil". In: RANGEL, Ignácio. Obras reunidas. Rio de Janeiro: Editora Contraponto, 2005. Já em 1843, "aproximadamente 3/8 do açúcar e ½ do café" exportados por Pernambuco, Bahia ou Rio de Janeiro eram embarcados por conta dos ingleses, embora "muito pouco desses produtos fosse realmente desembarcado na Inglaterra". MANCHESTER, Allan K. Preeminência inglesa no Brasil. São Paulo: Editora Brasiliense, 1973, p. 268 apud LAGONEGRO, Marco Aurélio. Metrópole sem Metrô: transporte público, rodoviarismo e populismo em São Paulo, 1955-1965. São Paulo, tese de doutoramento, FAU/USP, 2003, p. 200. O conceito de "forma de valor" é tomado de Francisco de Oliveira, cuja obra utilizo em comparação à de Rangel para obter dois pontos de vista da economia brasileira muito próximos, ainda que divergentes. Oliveira notabilizou-se na interpretação da economia brasileira com sua "Crítica à razão dualista", que imputou principalmente a Rangel. O que estudei de sua obra está em OLIVEIRA, Francisco. Crítica à razão dualista/ O ornitorrinco. São Paulo: Boitempo, 2003, e OLIVEIRA, Francisco. A economia da dependência imperfeita. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1989, onde consta o termo "forma de valor" em um texto chamado "A emergência do modo de produção de mercadorias: uma interpretação teórica da economia da República Velha no Brasil (1889-1930)". OLIVEIRA, 1989, p. 13. OLIVEIRA, 1989, p. 13. Para Oliveira "a forma de valor" (moeda estrangeira) do "capital constante" (infra-estrutura de transportes) arranjada desfavoravelmente nessa estrutura comercial suportava pressões que atingiram um pico que tornou necessária a dispensa do trabalho compulsório e a adoção de mercado de "força de trabalho". "A Abolição resolve um dos lados dessa contradição, transferindo para fora dos custos de produção dos bens agro-exportados, conforme já se assinalou, o fundo de subsistência dos escravos, que, transformada em força de trabalho, deve cuidar agora de sua própria reprodução. E disto nasce a possibilidade de um modo de produção de mercadorias". OLIVEIRA, 1989, p. 24. Ainda que o estatuto da escravidão tenha passado por transição desde a metade do século XIX, culminando na substituição jurídica do tipo de trabalho em 1888, o primeiro passo visto por Oliveira daí em diante foi a fundação de um campesinato, ou "quase-campesinato" no país, que serviria aos senhores na acumulação do capital necessário para repetir, internamente, o que o país servira às potências capitalistas externas. O estatuto desse campesinato sem-terra o autor não define, contudo. CENTRO INDUSTRIAL DO BRASIL. "Descriminação por ordem chronologica da construcção dos caminhos de ferro. Condições technicas. Custo approximado da construcção. De 1852 a 1889". In: CENTRO INDUSTRIAL DO BRASIL. O Brasil, suas Riquezas Naturais, suas Indústrias. Rio de Janeiro, 1909, v. 2, tomo 3. Re-edição fac-similar SÉRIES ESTATÍSTICAS RETROSPECTIVAS. Rio de Janeiro: IBGE, 1986. OLIVEIRA, 1989, p. 12. OLIVEIRA, 1989, p. 12. OLIVEIRA, 1989, p. 20. "Virtude técnica" poderia significar para o autor, talvez, tanto o "saber-fazer", quanto o "como-fazer", isto é, tanto a habilidade quanto a disciplina para o trabalho industrial, das quais o ex-escravo estaria desprovido. E na p. 26: "O avanço da divisão social do trabalho nas cidades exigirá, pois, a simultaneidade da industrialização com a urbanização, cujos resultados serão, quando concretizados, uma autarcização da produção industrial [...]", amalgamando "industrialização" e "urbanização" de tal forma, que o autor conjectura: "as cidades industriais nucleadas por uma grande fábrica, ou melhor, cidades dentro de fábricas, são a regra no Brasil da República Velha". Grifos meus. RANGEL, Ignácio. "Recessão, inflação e dívida interna". Revista de economia política, Rio de Janeiro, v. 5, nº 3, julho a setembro de 1985, p. 17, grifos meus. Quando a questão é colocada diretamente para a indústria rodoviária, percebe-se que a produção dos mais simples componentes automobilísticos, como carroçarias, chegou a ser iniciada "a partir de uma infra-estrutura pré-existente de produção de implementos agrícolas", isto é, "uma legítima contribuição da agricultura para a industrialização do Brasil, cujos bons exemplos são a VEMAG e a Romi". LAGONEGRO, 2003, p. 228. No entanto, como narra Lagonegro, a vitória na produção automobilística foi reservada à indústria norte-americana instalada no ABC paulista, ainda que iniciada pelas fábricas de autopeças nacionais, mantendo-se a tese apresentada neste parágrafo. OLIVEIRA, 1989. OLIVEIRA, 1989, p. 14. OLIVEIRA, 1989, p. 14. Para Oliveira, criador do termo, a "classe burguesa-agrária" metamorfosear-se-ia durante a República Velha em "oligarquia antiburguesa". OLIVEIRA, 1989, p. 29. Fonte: ESTATÍSTICAS HISTÓRICAS DO BRASIL: SÉRIES ECONÔMICAS DEMOGRÁFICAS E SOCIAIS DE 1550 A 1988. 2. ed. rev. e atual. do v. 3 de SÉRIES ESTATÍSTICAS RETROSPECTIVAS. Rio de Janeiro: IBGE, 1990 apud ESTATÍSTICAS DO SÉCULO XX. Rio de Janeiro: IBGE / Centro de documentação e disseminação de informações, 2003. Série interrompida. Disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br>. Acesso em jul. 2006. É a opinião de Margareth Martins ao citar Alfred Chandler, estudioso norte-americano da história das empresas, que escreveu sobre os "big business" que surgiam nos EU no fim do século XIX, identificando neles a inovação gerada pelas ferrovias: "As estradas de ferro tiveram de ser inovadoras em muitas maneiras da administração corporativa moderna. (...) A diferença no custo operacional entre uma estrada de ferro e uma grande fábrica vinha mais da manutenção da plataforma ferroviária, maquinário, e outros equipamentos do que no pagamento dos trabalhadores. (...) Suas operações diárias pediam por decisões muito mais complexas do que pedia o funcionamento de um moinho, canal ou linha de navio a vapor. Diferentemente de uma companhia têxtil, cujo grupo de moinhos poderia ser vistoriado em meia hora, uma estrada de ferro estava espalhada por centenas de milhas e incluía uma variedade de atividades e facilidades tais como lojas, terminais, estações, depósitos, escritórios, pontes, linhas telegráficas, e assim por diante. (...) Diferentemente de um canal, que tinha a mesma extensão geográfica, a estrada de ferro corria, mantinha, e reparava seu próprio equipamento usado no transporte de bens e passageiros. Então todos os dias os administradores de estradas de ferro tinham de tomar decisões controlando as atividades de muitos homens com quem eles raramente falavam ou mesmo viam. Ademais, essas decisões operacionais tinham de ser feitas ainda mais rapidamente e envolviam responsabilidades mais críticas do que decisões na administração de fábricas têxteis, canal, ou linha de navio a vapor. A condição de frete e segurança e, de fato, as próprias vidas dos passageiros dependiam de decisões efetivas contínuas. Igualmente importantes para operações eficientes das linhas eram as decisões contínuas quanto ao número de carros a serem enviados em corridas agendadas, de maneira a atingir as demandas constantemente cambiantes de espaço de frete nas diferentes estações, as quais a cada dia carregavam diferentes quantidades e variedade de bens que deveriam ser movidos em quantidade em ambas direções por muitas centenas de milhas de trilho. Assim complicadas eram também as decisões de longo alcance de estabelecimento e ajuste de taxas e de determinação de custos, lucros, e perdas. Não eram apenas as decisões administrativas de coordenação e avaliação que eram mais complexas e envolviam um maior número de homens, dinheiro, e materiais do que fábricas e outros tipos de empresas de transporte, mas também as decisões de maior alcance envolvendo expansão por construção ou compra do desenvolvimento de novos terminais e outras instalações, a compra de novo equipamento, e os métodos usados para financiar tal expansão. Ao criar necessidades negociais totalmente novas, tamanho e complexidade trouxeram respostas totalmente novas. A necessidade de muitas companhias de estradas de ferro em obter vastas somas de capital quase que simultaneamente para construir e equipar suas estradas estimularam novas vias de financiamento. (...) Pesados custos de capital inicial e de operação criaram pressão intensiva para manter essas instalações custosas funcionando em plena capacidade, e que então levaram a radicalmente novos padrões de competição e cooperação entre unidades empresariais, a inteiramente novas maneiras de precificação e taxação, e a novos motivos e métodos de crescimento da empresa individual. Porque decisões na precificação e expansão afetavam tão intimamente as fortunas de tantos fazendeiros, mercadores, e manufatureiros, e as próprias vidas de tantas comunidades americanas, eleitores exigiram e obtiveram um novo tipo de regulação governamental de empreendimentos de corporações privadas. O emprego de ainda maior número de trabalhadores, muitos deles muito mais habilidosos do que os operários de fábricas têxteis, de calçados, de embalagem de carnes, e outras fábricas contemporâneas, levou a criação de alguns dos primeiros grandes e modernos sindicatos nacionais. Finalmente, a gama de experiências requeridas para administrar uma grande estrada de ferro trouxe os primeiros administradores tecnologicamente treinados aos negócios americanos, homens que completavam o treinamento em engenharia e então ascendiam a escada administrativa, fazendo suas carreiras em estradas de ferro". CHANDLER, Alfred Dupon. "The railroads: pioneers in modern corporate management". In: CHANDLER, Alfred Dupon. The essencial Alfred Chandler: essays toward a historical theory of big business apud MARTINS, Margareth. Caminhos Tortuosos: um painel entre o Estado e as empresas ferroviárias brasileiras, 1934-1956. São Paulo, tese de doutoramento, FFLCH/USP, 1995, p. 30-1, grifos meus. Assim como a ferrovia desenvolvia no interior da economia norte-americana os fundamentos da administração corporativa dos "big business" pela qual ficaria caracterizado o modo capitalista de produção nos EU, foi também ela a pioneira na exportação norte-americana de empreitadas tecnológicas, sendo o caso da empresa privada P & T Collins, cuja equipe empreitou a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré em 1877, o primeiro caso registrado dessa nova e hoje famosa atuação dos capitalistas norte-americanos. O pagamento aos empreiteiros teria sido com títulos da dívida pública, remunerados a taxa de 5% a.a., segundo Castello Branco. BRANCO, 2005. A empresa, por sinal, fracassou, como narrou Manoel Rodrigues Ferreira. FERREIRA, Manoel Rodrigues. A ferrovia do diabo. São Paulo: Melhoramentos, 2005, p. 108. BARAT, Josef. A evolução dos transportes no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE/IPEA, 1978, ao longo de toda obra. Essa também é a opinião dominante entre os demais estudiosos das ferrovias. Margareth Martins verificou exatamente essa questão das cargas interior-litoral e litoral-interior, na Estrada de Ferro Central do Brasil na primeira metade do século XX, chegando, entretanto, a conclusão inovadora, segundo a qual a Central do Brasil teria seu melhor desempenho no trajeto de "importação", mais do que no de exportação, uma exceção à regra dos estudiosos dos transportes, inclusive Barat. MARTINS, 1995. Exposição de BARAT, Josef. "Revista Brasileira de Economia, Rio de Janeiro, n. 23 (3), jul./set. 1959, p. 25-52,". In: BARAT, 1978, p. 250, grifos meus. COSTA, Sérgio; ALONSO, Ângela; & TOMIOKA, Sérgio. Modernização Negociada: expansão viária e riscos ambientais no Brasil. Brasília: Edições IBAMA, 2001, p. 48-9 apud LAGONEGRO, 2003, p. 258. FURTADO, Celso. Um projeto para o Brasil. Rio de Janeiro: Editora Saga, 1968, p. 76. A meta de transferência dos centros de decisão para dentro do país significaria a consolidação da integração nacional e com isso a independência política e econômica brasileira em relação aos interesses estrangeiros sobre o país, meta maior do desenvolvimento nacional. BARAT, Josef. "Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, n. 7 (4), out./dez. 1973, p. 105-199". In: BARAT, 1978, p. 23. "De fato, a expansão da agro-exportação que planejou e presidiu sua implantação fez com que as ferrovias paulistas de rede nada tivessem, constituindo um leque de linhas articuladas unicamente no nó paulistano, diferindo em bitolas e outras características técnicas, implantadas para atender antes aos interesses dos fazendeiros". LAGONEGRO, 2003, p. 205. "Com a industrialização aumentaram os fluxos de produtos primários agora necessários para o mercado urbano em expansão e os fluxos de manufaturados. O alto valor desses últimos justificava a suplementação da capacidade de transporte através das rodovias". BARAT, Josef. "Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, n. 5 (1), jan./jun. 1971, p. 49-98". In: BARAT, 1978, p. 114. "O índice de evolução do comércio por vias internas estava demonstrando que o país iria depender em escala crescente de rodovias para integrar e expandir a sua economia. De 1939 a 1950 o comércio por vias internas havia quase duplicado, enquanto o que se processava pela cabotagem aumentava apenas uma vez e meia". DICIONÁRIO HISTÓRICO-BIOGRÁFICO BRASILEIRO. Rio de Janeiro: CPDOC-FGV, 2001, apud LAGONEGRO, 2003, p. 265, grifos meus. Por substituições de importações subentende-se a característica principal do processo pelo qual se deu o desenvolvimento da economia brasileira após a Segunda Grande Guerra. Com as restrições à capacidade de importar condicionadas pela guerra, as relações externas forçaram o país a se industrializar da maneira como fez, ou seja, ordenando o processo a partir do Estado que incentivou uns setores em detrimento de outros, do que resultou o desenvolvimento "de trás para a frente", isto é, do Departamento II (bens de consumo) para o Departamento I (bens de capital). A participação estrutural da inflação no desenvolvimento econômico brasileiro está explicada no texto "A Inflação brasileira" de Ignácio Rangel, cuja síntese breve está em tomar a inflação como um "reflexo para-simpático" do mercado nacional para a estabilização social contra os desequilíbrios estruturais provenientes da divisão proprietária. Esses desequilíbrios podem ser expressos na relação de função inversa entre aquilo que os marxistas chamam de "taxa de exploração" (mais-valia/capital variável), e os keynesianos chamam de "propensão a consumir" (investimento/consumo). Assim, devido à alta "taxa de exploração" na economia brasileira, a "propensão a consumir" é conseqüentemente baixa. Para manter as altas taxas de imobilização de capital (do que faz parte toda a formação de capital) daí necessárias, para que assim a liquidez do capital gerado não deprecie o valor das mercadorias, a inflação agiria como "indutora" da imobilização desse capital, na forma de investimento em bens de produção, ou na forma de consumo de bens duráveis, uma noção instintiva que qualquer brasileiro com mais de 15 anos é capaz de recordar da época em que a inflação fazia a sua "lista de compras". RANGEL, Ignácio. "A inflação brasileira". In: RANGEL, Ignácio. Obras reunidas. Rio de Janeiro: Editora Contraponto, 2005. Oligopólio: privilégio para poucos do exercício da venda; oligopsônio: privilégio para poucos do exercício da compra. A bem da verdade, devido à intervenção feita pelo Estado, esse setor da economia agiu ainda mais concentradamente, podendo ser caracterizado como monopólio-monopsônio. RANGEL, Ignácio. "A inflação brasileira". In: RANGEL, 2005. A controvérsia sobre a pertinência do uso do termo "feudal" para rotular qualquer coisa na sociedade brasileira é imensa. Decorrente principalmente de assuntos de origem política entre os marxistas, não cabe aqui reeditar a celeuma. Antes, devo esclarecer que opto por não esconder o termo simplesmente porque é o que Rangel usa para descrever nossa sociedade dual, de maneira que mantenho com isso as categorias. Já Francisco de Oliveira, por exemplo, prefere descrever aquilo que para Rangel é a "dualidade capital-mercantil/latifúndio feudal" usando outros nomes, como "estrutura agrário-exportadora", o que, devo concordar com Rangel, "nada nos diz da natureza das relações de produção vigentes". RANGEL, Ignácio. "A inflação brasileira". In: RANGEL, 2005, p. 591. Enfim, o importante não é o rótulo, mas a essência do que se trata. Segue o trecho completo para que se acompanhe a argumentação de Rangel em 1963: "Este poder discricionário [de ditar os preços] exercido pelos grupos comercializadores, não deriva de nenhum imperativo técnico ou econômico. O isolamento da agricultura há muito que foi rompido, graças ao desenvolvimento da rede nacional de transportes rodoviários; o sistema bancário nacional ampliou-se, modernizou-se, cresceu em poder, e está em condições de atender às necessidades da agricultura; já está criada uma ampla rede de silos e armazéns do Estado, capaz de habilitar o agricultor médio e grande ou o comerciante do interior, que reúne a produção dos pequenos agricultores, a prescindir do oligopsônio-oligopólio, que controla os grandes centros consumidores, e que antes prestava esses serviços em condições precárias e feudais etc. Não obstante, é extraordinário o poder desse grupo. A única explicação possível para essa anomalia —peça importantíssima do mecanismo institucionalizador da inflação, como vimos— está no apoio que o Estado dá ao oligopsônio-oligopólio de bens agrícolas. [...] Manter sua unidade, impedir a competição, consolidar portanto o poder monopólico do grupo [formado da reunião dos agentes do oligopólio-oligopsônio na Comissão do Abastecimento], através da sanção legal que, de fato, homologa e dá eficácia às decisões do grupo, eis em que consiste a intervenção do Estado nesse terreno". RANGEL, Ignácio. "A inflação brasileira". In: RANGEL, 2005, p. 624. O engano quanto a essa característica da chamada "questão agrária" levava as massas trabalhadoras a tratá-la como um problema agrário, "em vez de serem mobilizadas contra esse oligopsônio-oligopólio, que não passa de uma sobrevivência feudal e cuja sede está próxima, na cidade mesmo, o são para uma batalha inviável contra o feudalismo rural, que elas não conhecem porque está distante". RANGEL, Ignácio. "A inflação brasileira". In: Rangel, 2005, p. 625, grifos meus. MORAES, Antonio Carlos Robert. Bases da formação territorial do Brasil. São Paulo: Hucitec, 2000. Fonte: CENTRO DE ESTUDOS DE ECONOMIA E GOVERNO (CEEG) DO INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA (IBRE / FGV-RJ). Tabulações especiais (mimeo). Obs.: Dados referentes ao total do governo federal. Série interrompida. Disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br>. Acesso em jul. 2006. Fonte: HADDAD, Cláudio Luiz da Silva. Crescimento do produto real no Brasil, 1900-1947. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 1978. Série interrompida. Com ajustes meus. Disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br>. Acesso em jul. 2006. Martins une-se a outros pesquisadores na opinião de que a encampação da SPRailway e outras, "durante o Governo Dutra, foi responsável por parte substancial da queima das reservas cambiais adquiridas pelo país durante a Guerra". MARTINS, 1995, p. 344. "Diferente da Inglaterra, os Estados Unidos não só concorreram na exploração de serviços de infra-estrutura arrebatando-os dos britânicos, mas também 'prepararam o terreno' para o futuro investimento maciço de seus capitais atuando ideologicamente e fornecendo uns poucos bens e serviços altamente estratégicos no contexto da formação da segunda revolução industrial como, por exemplo, automóveis, derivados de petróleo, pneus e material elétrico demandado em grandes quantidades". LAGONEGRO, 2003, p. 204. LAGONEGRO, 2003, p. 208. Relatório de 1954 citado por BARAT, Josef. "Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, n. 5 (1), jan./jun. 1971, p. 49-98". In: BARAT, 1978, p. 120. Barat toma esta opinião por Celso Lafer. LAFER, C. O planejamento no Brasil – observações sobre o programa de metas. São Paulo: Perspectiva, 1970. É a tese de Barat publicada em BARAT, Josef. "Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, n. 5 (1), jan./jun. 1971, p. 49-98". In: BARAT, 1978, p. 138. BRASIL. Câmara dos Deputados. Plano Nacional de Viação e Conselho Nacional de Transporte: projeto nº 326 a 327 de 1949. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1952, p. 57. BRASIL, 1952, p. 58. BRASIL, 1952, p. 58 e 68. Na reunião de número 54 da comissão de relatoria do Plano Nacional de Viação na Câmara dos Deputados, de 20 de novembro de 1951, deu-se a continuação da leitura das emendas rodoviárias iniciadas na reunião anterior, finalizada com "uma salva de palmas ao senhor [Deputado e relator] Edison Passos", pedindo o Deputado Roguski que constasse em ata "um voto de louvor a Sua Excelência". Apesar do júbilo, contudo, o plano não foi votado, e ficou letra-morta durante o segundo governo de Vargas. Os planos de viação do Segundo Império, os de Rebouças, Bulhões, Moraes e outros, todos eles ferroviários e hidroviários em essência, são abordados na tese de doutorado de Manoel Souza, onde o autor demonstra a relação truncada entre esses projetistas e o Estado, através de projetos para um país que não era o mesmo que havia nos planos dos donos do poder de então, razão pela qual esses projetos entraram para a posteridade como "sonhos utópicos", substituídos finalmente no Plano Nacional de Viação de 1946. SOUZA NETO, Manoel Fernandes. Planos para o Império: Os Planos de Viação do Segundo Reinado. São Paulo, tese de doutoramento, FFLCH/USP, 2005.
|
||
| [ÍNDICE] | ||
| [PRÓXIMO CAPÍTULO] |